Afastando-se os entulhos promocionais, as falácias da publicidade e a manipulação dos noticiários de acordo com os interesses econômicos, nota-se que a Amazônia vem sendo quase sempre vítima, repetidamente abatida pelas simplificações, pela esterilização de suas lutas e neutralização das vozes regionais. Sem a necessária serenidade, e visão crítica da questão a partir de um projeto de sociedade nacional, os brasileiros deixam-se levar pela perplexidade quando não sucumbem definitivamente à propaganda.
A questão da região amazônica é sem dúvida fundamental para entendermos bem a diversidade do Brasil. Mas nem sempre foi possível o acesso ao passado da grande planície. Por isso, chamo a atenção para o trabalho de reestruturação dos arquivos públicos brasileiros. Como o que foi feito em Belém, permitindo que os pesquisadores tivessem acesso a informações até então inéditas, o que foi muito importante para o estudo da formação do Brasil e da integração da Amazônia ao Estado brasileiro.
O Brasil é fruto de um conjunto de paradoxos, entre pobreza e riqueza, modernidade e arcaísmo. É necessário analisá-los para entender a formação do país. É preciso levar em conta também as particularidades do modelo colonial português.
Não podemos esquecer que, na origem, a Amazônia não pertencia ao Brasil. Na verdade, os portugueses tinham duas colônias na América do Sul, uma descoberta por Cabral em 1500, governada pelo vice-rei do Brasil, a outra, o Grão-Pará e Rio Negro, descoberta por Vicente Iañes Pinzon em 1498, logo após a terceira viagem de Colombo à América, quando batizou o rio Amazonas de mar Dulce, mas efetivamente ocupada pelos portugueses a partir de 1630. Esses dois Estados se desenvolveram distintamente até 1823, data em que o Império do Brasil começou a anexar o seu vizinho. A violência era naquela altura a única via possível, tão diferentes eram as estratégias, a cultura e a economia dessas duas colônias. A Amazônia então não era uma fronteira: este é um conceito que foi inventando pelo Império e retomado pela República.
No Grão-Pará e Rio Negro, a economia era fundada na produção manufaturada, a partir das transformações do látex. Era uma indústria florescente, produzindo objetos de fama mundial, como sapatos e galochas, capas impermeáveis, molas e instrumentos cirúrgicos, destinados à exportação ou ao consumo interno. Baseava-se também na indústria naval e numa agricultura de pequenos proprietários. O marquês de Pombal nomeara seu próprio irmão para dirigir o país, com o intento de reter o processo de decadência do império português, que dava mostras de ser incapaz de acompanhar o desenvolvimento capitalista. Nesse contexto, os escravos tinham uma importância menor do que em outros lugares. O país desfrutava, além disso, de uma cultura urbana bastante desenvolvida, com Belém, construída para ser a capital administrativa, ou a sede da capitania do Rio Negro, Barcelos, que conheceu um importante desenvolvimento antes de Manaus e para a qual recorrera-se ao arquiteto e urbanista de Bolonha, Antônio José Landi. Em compensação, a colônia chamada Brasil dependia amplamente da agricultura e da agroindústria, tendo, portanto, uma forte proporção de mão-de-obra escrava. Em meados do século XVIII, tanto o Grão-Pará quanto o Brasil conseguem criar uma forte classe de comerciantes, bastante ligados à importação e exportação, senhores de grandes fortunas e bastante autônomos em relação à Metrópole. Mas, enquanto os comerciantes do Rio de Janeiro deliberadamente optaram pela agricultura de trabalho intensivo, como o café, baseando-se no regime da escravidão, os empresários do Grão-Pará intensificaram seus investimentos na indústria naval e nas primeiras fábricas de beneficiamento de produtos extrativos, especialmente o tabaco e a castanha-do-pará.
A anexação da Amazônia marcou o começo de um novo processo e provavelmente, aos olhos das elites do Rio de Janeiro, só poderia ser à força. Para as elites do Grão-Pará, o incidente das cortes, liberais internamente mas recolonizadoras para fora, e a intimidade com as idéias da Revolução Francesa adquirida na tomada e ocupação de Caiena, fez perceber que a via da república era mais adaptada à América que um regime monárquico. Os ministros do jovem e impetuoso imperador brasileiro não podiam admitir tal coisa. E, entre 1823 a 1840, o que vai se ver é um processo de provocação deliberada, seguida por uma severa convulsão social e a conseqüente repressão. Se me permitem a comparação um tanto audaciosa, foi de certa modo como se o Sul tivesse ganhado a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Com a repressão, a Amazônia perdeu 40% dos seus habitantes. A anexação destruiu todos os focos de modernidade. Entre o Império e as oligarquias locais, nenhum diálogo era então possível.
Se o Brasil é geralmente dado no exterior como um país de emoções, de irracionalidade, um país primitivo ou até folclórico, não podemos esquecer, no entanto, que ele herdou da colonização portuguesa uma grande capacidade de organização e de planejamento, assim como uma preocupação afirmada com os detalhes. Os portugueses sempre fixaram objetivos para si mesmos. Previam cada um de seus passos no continente latino-americano. Não consta na crônica da conquista a existência de portugueses em busca da fonte da juventude, tampouco puseram um pé na água para declarar, como fizeram os espanhóis, que se tinham apossado do oceano Atlântico inteiro. Se o Império não tivesse tido que se haver com a Amazônia, ou, como disse José Honório Rodrigues, se não tivesse passado o tempo inteiro reprimindo revoltas populares, podemos estar certos de que o processo de expansão territorial do Brasil teria atingido as margens do Pacífico. A Amazônia passou, portanto, a ser uma fronteira entre uma zona de cultura brasileira predominante e um subcontinente onde se fala francês, holandês, espanhol, português. Além disso, 32 idiomas são praticados no Rio Negro, idiomas esses que são verdadeiras línguas e não dialetos. Temos de um lado dessa fronteira uma cultura brasileira em plena expansão e, do outro, culturas originais, pré-colombianas, vivas até hoje, culturas essas que, vale lembrar, estiveram muito tempo na frente das outras, em particular do ponto de vista da técnica, antes de serem submersas pelo processo de integração.
Mas a tragédia da região não poderá ser também a sua redenção? A oposição arcaísmo-modernidade não estaria sendo vista ao avesso? A experiência da modernidade já foi feita na região. Mas os tecnocratas e o governo central foram incapazes de favorecer a aceitação de experiências locais no processo de integração econômica. Isso aparece claramente com o exemplo da criação de gado: a chegada do boi só foi uma tal catástrofe para a Amazônia porque o modelo agropecuário foi imposto a um estado, o Acre, onde não havia tradição de criação de gado, e que por causa disso perdeu sua cobertura florestal tradicional. Por que não usaram em vez disso as zonas tradicionais de pasto, como as existentes no baixo Amazonas, na região de Óbidos, Alemquer e Oriximiná, ou em Roraima, cuja superfície é superior à de todos os pastos europeus reunidos? Esse é exatamente um caso em que a integração econômica foi feita em detrimento da história e da tradição locais. E, no entanto, a arrogância não ficou apenas com os tecnocratas do governo militar; um contingente imenso de salvadores da Amazônia estabeleceu suas agendas baseadas em conclusões apressadas.
Por exemplo, as soluções de neo-extrativismo propostas por Chico Mendes destinavam-se apenas a dois ou três municípios. Alguns quilômetros além, não serviam mais. Era, portanto, absurdo focalizar-se nelas e apresentá-las como soluções de uso geral na região, como fizeram alguns ecologistas e certos movimentos de defesa da região. Nos parâmetros políticos de 1985, quando a idéia foi gerada, a luta por tais reservas extrativistas estava perfeitamente explicada. No entanto, esse foi um conceito muito alargado desde então, a ponto de se tornar uma das mais usadas medidas "de preservação" do governo Sarney e, em termos políticos amplos, uma espécie de proposta geral para a região, pois o "futuro" da Amazônia estaria em sua total regressão à economia extrativista.
Se o extrativismo imprimiu a face econômica da Amazônia, ele foi capaz de formar uma sociedade peculiar e uma cultura, determinando uma estrutura social com interesses bem definidos. Estou convencido de que Chico Mendes, meditando sobre o caráter dessa sociedade, especialmente sobre a decadência do proprietário extrativista, desenvolveu as primeiras idéias sobre o projeto tático das reservas extrativistas. Era uma forma de mobilizar os seringueiros para a defesa da propriedade extrativista, já que os proprietários estavam enfraquecidos, postos à margem pelo modelo econômico agropecuário e especulador.
Os proprietários extrativistas, entre eles os seringalistas, raramente se preocupavam com a terra. Eles controlavam a produção extrativa, financiavam a safra. Não eram exatamente senhores da terra, ou fazendeiros, mas apenas "dominadores" das áreas de matérias-primas como a castanha, a piaçava, madeira, a batata, a sorva e a borracha. Era, por certo, uma classe com características rurais no trato das relações de trabalho, mas a sua criatividade estava na capacidade de dinamizar a produção extrativa. Essa classe estabeleceu o controle da terra, abrangendo grandes áreas produtivas. O seu controle dos meios de produção limitava-se, basicamente, ao controle das áreas extrativas, já que no relacionamento com a natureza o proprietário extrativista não avançava o seu controle, não havia a preocupação do cultivo, da pesquisa, e a mão-de-obra era apenas considerada força de trabalho. Esta característica especial do proprietário extrativista deu ao trabalhador da frente extrativista algumas peculiaridades que o fez, por exemplo, diferente do camponês do latifúndio nordestino, ainda que este tenha sido a matriz humana daquele.
No extrativismo, a produção assumia um interesse vital, não durava o ano todo, e não apenas era exigido ao trabalhador uma massa de produto produzido, mas era necessário arrancar esse produto pelo sobretrabalho. É que no extrativismo, como forma arcaica de produção, o valor de troca está muito próximo do valor de uso. O cálculo do salário, portanto, estava intimamente ligado à quantidade da produção do trabalhador. Era uma força de trabalho que valia o quanto pesava, determinada inclusive pela necessidade de ser mantida na produção à custa de abusos sociais, como a obrigatoriedade do consumo no comércio do proprietário e a sistemática estrutura policialesca do patrão impedindo o trabalhador de abandonar a produção.
Uma economia como a extrativista, que sequer formou uma oligarquia firme em seus propósitos, não poderia servir de modelo de restauração salvadora. Os proprietários extrativistas foram saindo de cena, consumindo o melhor de sua energia e capacidade criadora no exercício de sobreviver a qualquer custo. Durante o tempo em que estiveram parasitando a natureza da região, os extrativistas relacionaram-se com os grupos hegemônicos do país através de uma lamentável sublimação política. Fingiam que tinham o poder, encenavam os seus desejos e, no final, acabavam por conciliar, seguindo a reboque com a sensação do dever cumprido.
Chico Mendes não estava fazendo nenhum tipo de apologia restauradora de uma página negra da história regional ao propor a luta pela transformação dos seringais acreanos em reservas. Ele sabia que tais reservas eram soluções muito localizadas, que não respondiam sequer ao problema do Acre, quanto mais de uma área continental, diversificada, como a Amazônia brasileira. Tratava-se, como era de se esperar, de um objeto tático, que visava barrar a invasão da economia especulativa e promover um alerta para a destruição de uma região cujos recursos biológicos sequer estão plenamente conhecidos.
O certo é que, se o extrativismo na Amazônia não está morto, deve ser definitivamente erradicado por qualquer plano que respeite o processo histórico e a vontade regional. Mesmo porque a Amazônia não deve ser reserva de nada, nem celeiro, nem estoque genético ou espaço do rústico para deleite dos turistas pós-industriais.
Se o modelo econômico brasileiro insiste em destruir riquezas que sequer foram computadas, movido por puro imediatismo econômico, não se deve agravar mais a região impondo-se soluções aparentemente ditadas pelo espírito da solidariedade. Especialmente porque contra os abusos é possível resistir, mas não há nada que se possa fazer contra a solidariedade.
Na realidade, a Amazônia foi reinventada pelo Brasil, que propôs para ela a sua própria imagem. Os moradores da Amazônia sempre se espantam ao ver que, talvez para melhor vendê-la e explorá-la, ainda apresentam sua região como habitada essencialmente por tribos indígenas, enquanto existem há muito tempo cidades, uma verdadeira vida urbana e uma população erudita que teceu laços estreitos com a Europa desde o século XIX. Aliás, nisso residem as maiores possibilidades de resistência e de sobrevivência dessa região. Com efeito, os povos indígenas da Amazônia nada conseguirão se não se apoiarem nessa população urbana, que é a única que se expressa nas eleições e exerce pressão sobre a cena política. É pelo jogo das forças democráticas que o problema da exploração econômica da Amazônia poderá encontrar uma solução. Portanto, é preciso reforçar as estruturas políticas regionais. A Amazônia conta uma população de 20 milhões de pessoas e nove milhões de eleitores, o que não é pouca coisa.
Embora o Brasil se orgulhe de ter "absorvido" a Amazônia, não aniquilou suas peculiaridades. Continua havendo uma cozinha, uma literatura, uma música da Amazônia. As trocas entre ambas as culturas são muitas, e isso é bom. A exploração da Amazônia pode esclarecer com proveito o projeto de modernidade do Brasil. As favelas, a má distribuição de renda e a desigualdade social decorrem menos da pobreza de certas regiões, que obriga seus moradores a emigrar, do que das opções políticas adotadas pelos grandes latifundiários e pelos donos das grandes empresas, ou seja, por aqueles que detêm o capital, os donos do império brasileiro.
Em mais de um século de existência a revista Punch jamais se dignou a falar do Brasil. Somente o tremendo alarido em torno dos problemas ambientais na região amazônica seria capaz de atrair a atenção desse bastião de sarcasmo britânico. Nessa única citação brasileira, uma espécie de editorial deliciosamente desabusado, a revista congratulava-se com o cinismo dos ambientalistas europeus e norte-americanos por finalmente terem encontrado no Brasil, bizarro país tropical em acelerado processo de autodestruição, mestiço e pobre, um perfeito substituto em termos de saco de pancadas para o Japão, o país que mais sistematicamente tem agredido o meio ambiente, mas que por ser rico e tecnologicamente avançado não pode ficar na alça de mira dos bem-pensantes.
O texto da Punch é mais que um sintoma, é um claro reflexo do grande fenômeno promocional em que se transformou o ecologismo, e um típico produto das aceleradas mudanças políticas que estão ocorrendo no mundo. Os agressivos efeitos de um modelo econômico imposto à Amazônia nos anos 1960, com resultados desastrosos especialmente para as populações tradicionais, ganharam sons exacerbados nos últimos anos, produzindo uma multiplicidade de vozes, de denúncias, de ameaças, de propostas, sempre envergando o escudo da solidariedade, que acabou por obscurecer ainda mais o problema brasileiro da Amazônia.
* Márcio Souza é romancista, autor de Galvez, imperador do Acre e Lealdade. Atualmente é presidente da Funarte (Fundação Nacional de Arte) do Ministério da Cultura.
fonte: Revista Estudos Avançados, vol.16 no.45 São Paulo May/Aug. 2002
Texto publicado originalmente em Raízes e rumos: pesrspectivas interdisciplinares em estudos americanos (Rio de Janeiro: 7Letras, 2001), organizado por Sonia Torres, a quem a revista agradece ter autorizado a publicação neste número.

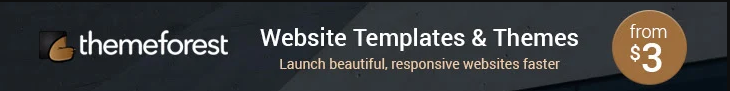
Sem comentários
Enviar um comentário