 |
| A lenda que García Márquez desenhou paira sobre Aracataca, sua terra natal |
Onde esteve o berço de Gabriel García Márquez, em Aracataca, já não há nada, nem um vazio; se você estivesse sozinho, passaria por esse lugar como se o terreno baldio tivesse sido um pedaço de pedra improdutiva desde o princípio dos tempos. De repente um dedo aponta:
– Ali nasceu Gabito, ali estava o berço.
Então o vazio alcança suas fronteiras, se torna concreto, um espaço que não existe, mas que consegue virar um lugar, como se você o lesse num romance. A lenda que ele mesmo desenhou paira por este espaço, e a imaginação então convoca o telegrafista, a mãe de Gabito, os avós e os livros, e a casa, que até então era uma nuvem inscrita no mapa legendário da casa do telegrafista onde nasceu o autor de Cem Anos de Solidão, começa a adquirir os ares dos seus romances. A imaginação e a carne, a realidade e o relato.
E tudo porque você olhou o vazio e o dedo moreno da menina que cuida da casa esclareceu, de repente, o passado deste lugar seco, perto das árvores enormes que compõem o pátio e que continuam tão fantasmagóricas como quando a família de Gabo vivia aqui, e ele era moleque.
De repente, nessa geografia severa, na qual não havia nada, uma mulher de cabelo comprido e grisalho, quase um fantasma, surge das profundezes desta casa desértica. Se houvesse uma tempestade ela a teria detido com os olhos; seu olhar era infinito e indiferente, como o das mulheres que Gabriel García Márquez retratou; quando passou ao nosso lado, deixou a sensação de ter sido parte de um furacão íntimo, cujo nome só podia ter sido inventado por Gabo.
Então perguntamos por ela, pelo seu nome. E a menina do dedo olhou para as costas arrogantes da mulher que ia embora e disse, apenas:
–Soledad Noches, se chama Soledad Noches [o nome significa “solidão noites”].
Era, avançando, como a noite que não vai a lugar nenhum; de fato, não a vi cruzar porta alguma, era como se tivesse ficado flutuando entre nós. E quando saímos à rua poeirenta, a caminho da margem do pântano onde houve certa vez (e ainda estão) as pedras pré-históricas que aparecem no romance mais famoso de García Márquez, vimos um homem que se balançava em uma cadeira de madeira fina; fumava um charuto longo, caribenho, e vestia uma regata branca e calças pretas como carvão. A menina do dedo disse:
–É o Nelson Noches, irmão da Soledad. Foi prefeito de Aracataca.
Era amigo de Gabo, Gabito para ele e para o povoado. Fazia anos que este filho novelesco do telegrafista de Aracataca não regressava ao seu povoado, mas isso não foi obstáculo para Nelson dizer, olhando para o infinito, aspirando seu charuto, balançando na cadeira, sob o calor e a poeira da rua de terra:
–Gabito? Esteve aqui ontem à noite, jogando baralho.
Depois fomos ver o gelo, a fábrica à qual o avô de García Márquez levou o neto para deixar na sua memória uma das metáforas que de forma mais determinante marcaram sua obra. Ali estava o vazio do gelo. A menina do dedo voltou a apontar:
–E ali está o gelo.
Em Aracataca tudo se diz no presente, como em Cem Anos de Solidão. O gelo existe, Gabo esteve ontem à noite, Soledad vive caminhando como se estivesse pisando nas páginas nas quais voam os personagens reais desta história de ficção que nasceu (e vive) em Aracataca.
Dias.
Há uma fotografia na qual Gabriel García Márquez está vestido com o macacão azul que durante anos foi sua vestimenta de trabalho. Para a rua, paletó espinha-de-peixe e botinas; para trabalhar, o macacão, o homem descalço diante da máquina de escrever.
Nesta ocasião, seu conviva é Juan Carlos Onetti, que segura um cigarro pela metade. Ambos estão pensativos, García Márquez é visto como é, como ficará na memória dos que estiveram próximos: um homem que presta atenção e pergunta, e seu olhar é o de um homem melancólico, que escuta como se estivesse em outro mundo e tivesse sido despertado para ser deste mundo.
Em Estocolmo, quando daquele alvoroço do Nobel, centenas de colombianos o rodeavam e comemoravam com ele, e com flores amarelas enviadas da Colômbia e de Barcelona, e ele parecia feliz com a rumba. Mas havia sempre algo naquele olhar que convocava a melancolia, e é esta que se vê nesse retrato em que divide espaço com Onetti.
Como se o dia ficasse nublado para ele ou que tivesse em mente uma questão pendente, um fardo, García Márquez sempre tinha esse ar. Está, por exemplo, no retrato mais famoso que foi feito dele quando era um jovem jornalista e falava ao telefone, talvez em Barranquilla. Gabo não era uma caixa de risos, era uma caixa de perguntas; ao redor dele riam, ele olhava, seu olhar sempre foi infinito.
Quem observar seu olhar, inclusive quando mostra a língua (em um célebre retrato de Indira Restrepo), ou quando aparece nas fotografias aplaudindo seus amigos (Álvaro Mutis, Carlos Fuentes…), encontrará nesse olhar de Gabo um ar de pesar que a vida foi acentuando, até que no final, quando sua memória já era nada mais que um extravio, recuperou o garoto que tinha dentro de si e começou a se comportar como se não tivesse assuntos pendentes, nem um argumento, nem um artigo, nem um romance, nada, nem sequer um horizonte incompreensível. Como se a idade (e o tempo, e o que este levou consigo) tivesse parado para que não fosse necessário nomeá-los.
Então se tornou solícito e disponível, ia e vinha pela casa oferecendo seus serviços, sorrindo. Parecia o menino de quem fala em suas memórias da infância, e fazia o papel de anfitrião comovedor até para aqueles que conviviam com ele. Por meio de um telefone com números grandes se punha a pedir gelo para os convidados, participava das conversas e, quando já se acreditava ter destrinchado todo o assunto levantado, dizia o mais apropriado, o que ele considerava que era eficaz no momento ao qual os outros tinham chegado conversando.
Saía à rua, se despedindo de nós, e falava, outra vez, com os que vigiavam o trânsito das garagens. Durante um tempo a conversa começava assim: “Vem cá...”. Aí então Gabo dizia isso com um sorriso, como se esperasse que ao seu redor os demais lhe dessem espaço para saber o que rolava, mas suas perguntas já não eram mais sobre a política, ou a Espanha, ou os amigos comuns. Ficou sem respostas, repetiu as perguntas, mas seu rosto se animou, como se regressasse à sua terra, talvez ao lugar onde a cada dia Nelson o esperava.
Noites em Aracataca. Uma noite dessas, Mercedes, sua mulher, nos levou com ele a um bar de ritmos caribenhos; prestava atenção como se não tivesse outra coisa que olhar no mundo. Suas mãos, que já tinham as manchas da idade, seguiam o ritmo com os dedos, e às vezes se recostava, como nas fotografias nas quais se vê como espera que lhe façam perguntas. A respeito daquela foto com Onetti, e de tantas que fizeram dele, o que era evidente era que agora sorria como se dançasse nos dias poeirentos de Aracataca.
Riso.
Era um tímido dos mil demônios. Uma vez, avançado o tempo, nos telefonou em Bogotá. Um amigo dele, muito querido, pretendia convencê-lo a falar em um ato público: a apresentação de um livro. Inclusive o colocou entre os convocados, com seu nome impresso.
García Márquez não poderia estar mais furioso. Ele não falava em público, não sabia o que dizer. Uma vez leu um conto em Madri, isso foi tudo. E nas conversas deixava que os outros falassem, ele introduzia (como dizia Borges sobre si mesmo) “alguns sábios silêncios”. Sua timidez não era fingida, era verdade, uma doença provavelmente congênita.
Para quebrar o gelo, na sua primeira casa de Barcelona, na rua Caponata, havia instalado uma gargalhada pré-gravada, que era ativada quando o visitante atravessava a porta. Dada a gargalhada, já havia por onde começar, assim a conversa começava como se ele e quem havia entrado falassem havia horas.
Quando o câncer o atacou, fez uma viagem a Madri; atrapalhado pelos remédios, dormia sempre que podia, cochilava. Numa dessas vezes o acompanhamos à serra de Madri; ia no carro, dormindo, até que chegou ao lugar, o esperavam estudantes de Jornalismo, ele iria lhes falar a respeito de Notícia de Um Sequestro, sua reportagem. Como se estivesse se quebrado com a dor do tempo, e com o fardo, e inclusive com a melancolia que produz ser o maior de todos, sendo ainda o melhor dos jornalistas, Gabo se sentou entre os jovens e começou a falar. Teria ficado cem anos falando de Jornalismo, como se o jornalismo fosse o contrário da solidão.
Certa vez, diante de uma das janelas de Carmen Balcells, em Barcelona, o vi fazer figuras com o pão, pacientemente, com suas mãos frágeis e já cheias das manchas senis. Esse olhar era também o que se vê nas fotos. Para lhe dizer alguma coisa, disse que queria voltar a entrevistá-lo, “não quero morrer sem entrevistar você”. Veloz como era disse: “Pois não morra”. Ele não gostava de entrevistas, porque gostava de fazer as perguntas.
A Paris Review enviou em 1981 Peter H. Stone para entrevistá-lo, quando já tinha escrito um livro legendário; Stone lhe perguntou o que estava fazendo. Respondeu: “Estou absolutamente convencido de que escreverei ainda o melhor livro da minha vida, mas não sei qual será, nem quando o escreverei. Quando sinto algo assim – e faz tempo que sinto – fico muito quieto para poder apanhar isso se chega a passar perto de mim”.
É provável que esse longo olhar infinito estivesse sempre quieto como ele, pendente dessa pulsação, ao menos deve ter sido assim desde que escreveu seu romance mais esmagador.
* por Juan Cruz

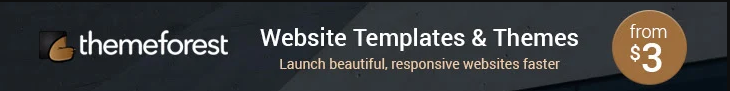
Sem comentários
Enviar um comentário