Os relatos apresentados ontem, 22 de maio de 2013, em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal (ouça o audio completo aqui) a respeito da forma como a Ditadura Militar montou uma verdadeira máquina de guerra contra os povos indígenas das diversas regiões do país para viabilizar a implementação de seu projeto de desenvolvimento a qualquer custo ecoa fortemente a política indigenista defendida hoje pela cúpula do Executivo Federal, cada vez mais rendida à bancada ruralista. Quanto aos últimos, são os mesmos algozes do passado, aqueles que representam os que se beneficiaram diretamente do esbulho das terras indígenas e do genocídio, sua posição não surpreende a ninguém. Quanto ao Executivo Federal, entretanto, nada poderia ser mais sintomático de uma verdadeira Síndrome de Estocolmo do que ver a presidenta Dilma Rousseff, que foi perseguida, presa e torturada pela Ditadura Militar, reeditando medidas análogas àquelas do regime para impor a todo o custo seu projeto desenvolvimentista goela abaixo dos povos indígenas.
O recém descoberto Relatório Figueiredo (veja aqui o seu resumo) é um documento oficial produzido pelo Estado brasileiro entre novembro de 1967 e março de 1968, como resultado de uma Comissão de Investigação do Ministério do Interior, que foi presidida pelo procurador federal Jader de Figueiredo Correia. Ele apresenta preciosas informações sobre as violações de direitos indígenas no Brasil tanto em relação aos direitos humanos quanto às usurpações patrimoniais e territoriais. Se a expropriação territorial era conhecida de todos, agora apresentam-se provas de atos bárbaros que apenas poucos conheciam a partir dos relatos dos indígenas que foram vítimas deles: regimes de trabalho forçado nos Postos do antigo Serviço de Proteção ao Índio (SPI); torturas realizadas com instrumentos como o “tronco” (“consistia na trituração do tornozelo da vítima, colocado entre duas estacas enterradas juntas em ângulo agudo. As extremidades, ligadas por roldanas, eram aproximadas lenta e continuamente”, nas palavras do próprio Figueiredo); celas clandestinas instaladas em diversos desses Postos; prisões oficiais que funcionavam como verdadeiros campos de concentração, para os quais eram levados indígenas de diversas etnias e regiões do país visando sua suposta “correção” (Veja mais sobre o presídio Krenak ); envio de alimentos envenenados que dizimaram aldeias inteiras, para liberação de suas áreas para aberturas de estradas e para colonização; enfim, toda uma variedade de práticas e instrumentos bárbaros contra os povos indígenas ...ecos do passado no presente?
Compare-se isso com o assassinato de mais de 300 lideranças no Mato Grosso do Sul nos últimos anos, de que falava Cléber Buzzato (CIMI) durante a referida Audiência, realizado por aqueles que se opõem à luta desses indígenas para recuperar as terras que perderam justamente por força do aparato de Estado aludido acima. O Presidente Lula, aparentemente sensibilizado com a situação dos Guarani e Kaiowá anunciou diversas vezes que a solução para esse problema seria dada em seu Governo. Tardou, mas ele permitiu em 2007 que a FUNAI criasse 6 grupos de estudo para a Identificação e Delimitação das Terras Indígenas da região. Em meio a uma série de disputas judiciais, foi apenas no início de 2013 que o resultado de um primeiro desses estudos foi publicado no DOU, delimitando a Terra Indígena Iguatemi Pegua I com cerca de 41.500 hectares. O Relatório de Identificação desta Terra Indígena apresenta uma análise minuciosa da situação histórica que resultou no esbulho das terras delimitadas, justificando com bases constitucionais e legais claras porque essas áreas são imprescindíveis à reprodução física e cultural desses indígenas, como determina o artigo 231 da CF 1988. Os outros estudos da região estão em fase avançada, e caso Dilma tiver alguma sensibilidade, em algum tempo seus resultados poderão ser publicados, e toda a sociedade terá uma noção exata da extensão das terras a que os Guarani e Kaiowa têm direito no Mato Grosso do Sul, condição mínima para que o impasse seja solucionado. Entretanto bastou uma pressão de ruralistas, com medo de que essa justiça histórica seja feita, para que a Ministra da Casa Civil fosse à público desautorizar o trabalho da FUNAI, dizendo que esse órgão não tem “critérios claros” para demarcar as terras indígenas e “mediar conflitos”, e que ela vai colocar a Embrapa e o Ministério da Agricultura para opinar sobre o assunto (veja aqui). Não é à toa que o Paraná, para onde a Ministra dirige inicialmente sua ofensiva, é um dos estados mais presentes nas denúncias do Relatório Figueiredo em razão da atuação criminosa do SPI e do governo de Moisés Lupion, que grilaram terras guarani e kaingang num processo que vinha desde a criação do Parque Nacional do Iguaçú e que culminou na construção, pelos militares, da Usina Hidrelétrica de Itaipú, que inundou terras Guarani. Apesar do esforço do Estado brasileiro em calar essa história, ela permanece viva na memória dos Guarani, à espera de reparação. Como dizem os Guarani do oeste do Paraná: “As Cataratas são nosso cemitério”. Continuará o Governo praticando os mesmo expedientes para construção de hidrelétricas na Amazônia, como no rio Tapajós, onde um Munduruku foi assassinado pela Polícia Federal?
O Relatório Figueiredo é, assim, apenas ponta do Iceberg, que mostra que o SPI atuou ativamente para retirar indígenas de seus territórios por meio da violência praticada enquanto política de Estado. Infelizmente, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste a FUNAI perpetuou essas práticas até pelo menos 1991 (as últimas TIs Guarani-Kaiowa forma reconhecidas em 1991/1993, nos Governos Collor e Itamar Franco). Nos últimos anos, iniciou-se um rompimento com essa política e a FUNAI parou de responder aos chamados de fazendeiros para que retirassem à força grupos indígenas das suas áreas tradicionais, mas que eles nunca cansaram de tentar retomar por meio de um movimento de resistência cultural pacífico, o que o órgão enquanto ainda esteve orientado pelo espírito integracionista do SPI fazia mesmo sem mandato judicial, como todos os que acompanham de perto a questão sabem.
Agora, os ruralistas apressam-se a criar uma CPI para investigar a FUNAI. Como apontou o deputado Ivan Valente (PSOL) (Ver mais), estão querendo punir a FUNAI é pelos seus méritos, por ter rompido com essa política. O que querem os eminentes deputados da Frente Parlamentar Agropecuária é investigar por que escritórios locais da FUNAI, os antigos postos, pararam de servir aos seus interesses; por que não fazem como sempre fez o SPI e a FUNAI da Ditadura Militar e do Governo Sarney, por que não querem mais enriquecer ilicitamente à custa do esbulho do território e do patrimônio indígena. É isso que incomoda os ruralistas.
E a cúpula do Executivo Federal, cada vez mais alinhada com aqueles parlamentares em nome de uma suposta “governabilidade”, corre para dar legitimidade a esses disparates. Já é passada a hora da presidenta Dilma aprender as lições do Relatório Figueiredo e perceber que os indígenas estavam do mesmo lado dos perseguidos políticos que lutaram contra o regime militar e por isso também foram mortos, torturados, tiveram seus parentes desaparecidos, seus cadáveres ocultados e merecem justiça e reparação. No momento em que o país esforça-se em abrir os porões de sua memória para construir um país mais justo e igualitário, trazendo à luz do dia verdades e violências caladas pelos militares, os poderes da República repetem as condutas daqueles que foram algozes da própria presidenta e de alguns hoje no governo, revivem velhos fantasmas, condenando os povos indígenas ao silêncio, ao esquecimento e ao extermínio.
fonte: CTI
Saiba mais:
Texto de Marcelo Zelic
Matéria do Viomundo com entrevista com Zelic
Entrevista com Spensy Pimentel
Senadores querem punição a autores de violência contra índios
PARA OUVIR NA ÍNTEGRA
Audiência Pública sobre Relatório Figueiredo na CDH Senado Federal
Audios:
Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parte 4
Data:
22/05/2013 Tipo:
Depoimento O presídio indígena da ditadura
Em julho, a Comissão Nacional da Verdade – sancionada pela presidenta Dilma Rousseff para investigar violações de direitos humanos cometidas, durante a ditadura militar, por agentes do Estado – anunciou que também irá apurar os crimes contra os índios. “Vamos investigar isso, sim, porque na construção de rodovias há histórias terríveis de violações de direitos indígenas”, afirmou, na ocasião, o diplomata Paulo Sérgio Pinheiro, um dos sete integrantes da Comissão.
Mas o massacre de etnias que se opuseram a grandes obras é apenas um dos capítulos dessa história. Tal como outros grupos subjugados nos “porões da ditadura”, os habitantes de aldeias Brasil afora também foram alvo de prisões clandestinas, associadas a denúncias de tortura, desaparecimentos e detenções por motivação política. E que, ao contrário de outros crimes cometidos pelo Estado à época, ainda não foram objeto de nenhum tipo de reparação oficial ou política indenizatória.
Tais violações de direitos humanos apontam para o município de Resplendor (MG), onde funcionou o Reformatório Agrícola Indígena Krenak, um velho conhecido do pataxó Diógenes Ferreira dos Santos. “Eu não gosto nem de falar, porque ainda me dá ódio”, diz, com o semblante fechado de quem está prestes a tocar em lembranças difíceis. “Mas quando puxa o assunto, meu irmão...” Quando começa, ele fala sem parar. Diógenes era ainda uma criança no dia em que, conforme conta, viu dois policiais se aproximarem da casa onde vivia, na Terra Indígena Caramuru Paraguaçu, encravada em meio às fazendas de cacau da região sul da Bahia. Vieram, diz ele, acionados por um fazendeiro, que reclamava ser o dono daquele local. Para não deixarem dúvidas sobre suas intenções, cravejaram de balas uma árvore próxima. E, logo depois, colocaram fogo na casa onde o pataxó vivia com sua família.
Exilados de seu território, Diógenes e seus pais viveram por cinco anos trabalhando numa fazenda próxima. Até serem novamente expulsos, no final da década de 1960. “Já que não tínhamos apoio de ninguém, decidimos voltar para o Caramuru”, conta.
Lá chegando, não demorou nem 15 dias para novamente apareceram policiais. Dessa vez estavam incumbidos de escoltar Diógenes e seu pai até a cidade. “Ficamos seis dias presos na delegacia de Pau Brasil (BA)”, relembra. “Até que veio a ordem de nos levarem para o reformatório Krenak, que eu nem sabia o que era”.
| O índio pataxó Diógenes Ferreira dos Santos |
Ironicamente, mais de 40 anos depois, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou, em maio de 2012, todos os direitos de propriedade dos fazendeiros que, nos dias atuais, ainda ocupavam a Terra Indígena Caramuru Paraguaçu. Sacramentando, portanto, a legitimidade do pleito de Diógenes na querela fundiária que o levou ao cárcere
Pedagogia da tortura
O reformatório Krenak começou a funcionar em 1969, em uma área localizada dentro do extinto Posto Indígena Guido Marlière. Suas atividades eram comandadas por agentes da Polícia Militar mineira, que, à época, recebeu a incumbência de gerir as terras indígenas daquele estado por meio de um convênio com a recém-criada Fundação Nacional do Índio (Funai).
Num boletim informativo da Funai de 1972, encontramos uma das poucas menções oficiais a respeito do local, qualificando-o como uma experiência de “reeducação de índios aculturados que transgridem os princípios norteadores da conduta tribal, e cujos próprios chefes, quando não conseguem resguardar a ordem na tribo, socorrem- se da Funai visando restaurar a hierarquia nas suas comunidades”. Osires Teixeira, então senador pela Aliança Renovadora Nacional (Arena) – o partido de sustentação da ditadura –, se pronunciou sobre o tema na tribuna do Senado, afirmando que os índios do Krenak “retornam às suas comunidades com uma nova profissão, com melhores conhecimentos, com melhor saúde e em melhores condições de contribuir com o seu cacique”.
À época, fora do governo – eram os “anos de chumbo” da ditadura –, também se contam nos dedos as referências à instituição. Em 1972, um enviado especial do Jornal do Brasil chegou a entrar clandestinamente no reformatório, naquela que provavelmente é a única reportagem in loco sobre o tema. Mas sua presença durou poucos minutos – segundo a própria matéria, ele foi expulso sob ameaças da polícia.
Ex-integrante do Conselho Indigenista Missionário em Minas Gerais (Cimi/ MG), a pedagoga Geralda Chaves Soares conheceu diversos ex-internos do Krenak. Aquilo que ela relata ter ouvido sobre os “métodos reeducacionais” da instituição – que incluíam indígenas açoitados e arrastados por cavalos – sugerem o real motivo por trás de tanto sigilo. “Uma das histórias contadas é a de dois índios urubu-kaápor que, no Krenak, apanharam muito para que confessassem o crime que os levou até lá”, conta ela. “O problema é que eles nem sequer falavam português”.
| Foto atual de morador da Terra Indígena Maxacali |
O Brasil de Fato teve acesso a documentos da Funai que desnudam diversos aspectos sobre o cotidiano do presídio indígena. Eles revelam que ao menos 120 indivíduos, pertencentes a 25 etnias dos mais diferentes rincões brasileiros, passaram pela instituição correcional. Pessoas que, via de regra, chegavam a Resplendor a pedido dos chefes de posto local da Funai. Mas também, em alguns casos, por ordem direta de altos escalões em Brasília.
É o caso, por exemplo, de um índio canela, do Maranhão, encaminhado à instituição em julho de 1969. “Além do tradicional comportamento inquieto da etnia – andarilhos contumazes –, o referido é dado ao vício da embriaguez, quando se torna agressivo e por vezes perigoso. Como representa um péssimo exemplo para a sua comunidade, achamos por bem confiá-lo a um período de recuperação na Colônia de Krenak”, atesta ofício emitido pelo diretor do Departamento de Assistência da Funai.
Homicídios, roubos e o consumo de álcool nas aldeias – na época reprimido com mão de ferro pela Funai – estão entre os principais motivos alegados para o envio de índios a temporadas corretivas. Além disso, também transparecem na burocracia oficial situações de brigas internas, uso de drogas, prostituição, conflitos com servidores públicos e indivíduos penalizados por atos descritos como vadiagem.
Boa parte desses supostos roubos, conforme revelam os próprios ofícios internos da Funai, remetem a atos de periculosidade risível, para dizer o mínimo. Gente como, por exemplo, um maxacali flagrado afanando uma cigarreira, três camisas de tergal, uma caixa de botões e alguns outros cacarecos na sede do seu posto indígena. Ou, ainda, o xerente que, após beber em uma “festa de civilizados”, voltou à aldeia pedalando a bicicleta de outra pessoa, tendo esquecido a sua própria para trás – engano provocado pela embriaguez segundo o próprio servidor local que solicitou a sua remoção.
| Imagens atuais do espaço onde funcionava a solitária |
Nesse balaio de gatos, alguns casos soam quase surrealistas. Um deles ocorreu em 1971, quando chegou ao reformatório um índio urubu-kaápor, com ordens de permanecer sob severa vigilância e em alojamento isolado. Seu encaminhamento a um “período de recuperação” justificava-se, segundo a Ajudância Minas-Bahia – órgão da Funai ao qual estava subordinado o reformatório – por ele ter praticado “atos de pederastia” em sua aldeia.
Dois meses depois, consta nos documentos do órgão indigenista que ele se apoderou de uma Gilette para tentar suicídio com um corte no abdômen. Recebeu atendimento médico e, após alguns meses, tentou uma fuga, sendo recapturado já em outro município.
Entre os internos, havia também pessoas aparentemente acometidas de transtornos mentais, vivendo no Krenak sem qualquer tipo de amparo psiquiátrico. A exemplo de um índio da etnia campa, clinicamente diagnosticado como esquizofrênico segundo relatório do próprio órgão indigenista. E que, entre outras excentricidades, dizia possuir vários automóveis e aviões, além de ser amigo íntimo do mandatário supremo da nação. “Sempre que um avião passa sobre esse reformatório ele pula e grita, dizendo que é o presidente vindo busca-lo”, relata um ofício a seu respeito.
| Ocrides Krenak: preso pelo consumo de cachaça |
Atualmente, ele faz planos para revisitar a aldeia onde nasceu pela primeira vez desde que saiu preso da Terra Indígena Pankararú, no sertão pernambucano. “Eu me arrepio só de lembrar das nossas danças, das brincadeiras e do Toré (ritual típico da etnia)”, confidencia, saudoso e emocionado. Sua casa atual fica a poucos quilômetros da antiga sede do Krenak, às margens do rio Doce, onde ainda existem as ruínas de concreto e aço da sede da instituição, parcialmente derrubadas por duas cheias no rio. Quando vier a próxima enchente, acreditam alguns moradores da região, devem também vir abaixo as últimas paredes que insistem em ficar de pé.
Entre os que não retornaram há também aqueles cujo destino, ainda hoje, permanece uma incógnita. Situação que remete, por exemplo, a Dedé Baena, ex-morador do Posto Indígena Caramuru, na Bahia. “Ninguém sabe se é vivo ou morto porque foi mudado para o presídio Krenak e desapareceu”, revela um não-índio, nascido na área do referido Posto Indígena, em depoimento de 2004 à pesquisadora Jurema Machado de Andrade Souza. Outros relatos atuais de indígenas da região confirmam o sumiço.
Em agosto de 1969, conforme está registrado em um ofício da Funai, Dedé foi levado a Resplendor a pedido do chefe do Posto em questão, que o qualificou como um “índio problema”, violento quando embriagado e dono de vasto histórico de agressões a “civilizados”. Lá chegou inclusive necessitando de cuidados médicos, com uma agulha de costura fincada na perna – ferimento ocorrido em circunstâncias não explicadas.
Nos documentos aos quais teve acesso, o Brasil de Fato não encontrou registros de sua eventual libertação, morte ou mesmo fuga.
“Índios vadios”
Paralelamente à chegada dos “delinquentes”, dezenas de índios krenaks ainda habitavam áreas vizinhas ao reformatório. Estavam submetidos à tutela dos mesmos policiais responsáveis pela instituição correcional, o que os tornava um alvo preferencial para ações de patrulhamento. Diversos deles acabaram confinados.
Homens e mulheres krenaks foram também recrutados para trabalhar na prisão indígena, e dão testemunho sobre as violências desse período. “Quem fugia da cadeia sofria na mão deles”, afirma Maria Sônia Krenak, ex-cozinheira no local. “E a mesma coisa as crianças da aldeia. Se fugissem da escola, também apanhavam”.
Por mais incrível que pareça, até mesmo a vida amorosa dos índios locais passava pelo crivo da polícia. “Antes de responder ao ‘pedido de casamento’, procedi (sic) uma sindicância sigilosa e sumária na vida pregressa do pretendente, apurando-se que é pessoa pobre, porém honesta”, aponta ofício escrito pelo sargento da PM Tarcisio Rodrigues, então chefe do Posto Indígena, pedindo aos seus superiores deliberação sobre o noivado de uma índia com um não índio dos arredores.
Na Terra Indígena Krenak, homologada em 2001 em Resplendor, muitos ainda tem histórias para contar sobre esse período. “Eu, uma vez, fiquei 17 dias preso porque atravessei o rio sem ordem, e fui jogar uma sinuquinha na cidade”, rememora José Alfredo de Oliveira, patriarca de uma das famílias locais. É um exemplo típico do que, para a polícia, era considerado um ato de vadiagem.
Assim como ocorria em outras regiões do país, os krenaks só podiam deixar o território tribal mediante a autorização do chefe local da Funai. Até mesmo a caça e a pesca fora dos postos indígenas – frequentemente inadequados para prover a alimentação básica – podiam, à época, levar índios Brasil afora diretamente ao reformatório.
Para Geralda, ex-Cimi, por trás de situações como essas – de sedentarismo forçado, prisões de “índios vadios” e até mesmo de supostos ladrões – havia, na verdade, um contexto de conflito territorial. “Por exemplo, os maxacalis (habitantes do Vale do Mucuri, no nordeste de Minas Gerais). Nessa época eles atacavam as fazendas de gado. Estavam confinados num posto indígena, passando fome, então caçar uma vaca era uma atividade de caçador mesmo. E aí prendiam o índio porque ele tinha roubado uma vaca”, contextualiza. “Mas, de fato, era uma questão de sobrevivência, e também de resistência. Achavam que, pressionando os fazendeiros, eles iriam embora. A compreensão maior de que a luta pela terra tem esse viés da Justiça só veio depois.”
No início dos anos de 1970, até mesmo a área ocupada pelos krenaks e pelo reformatório vivia dias de intensa disputa, reivindicada por posseiros que arrendaram lotes nos arredores. Como saída para o imbróglio, o governo de Minas Gerais e a Funai negociaram uma permuta entre tais terras e a Fazenda Guarani, área localizada em Carmésia (MG) e que pertencia à Polícia Militar mineira. Em 1972, foram todos – os krenaks, o reformatório e os confinados – deslocados para lá.
Logo após essa mudança, mudou também o chefe da Ajudância Minas- Bahia. Quem o assumiu foi o juruna João Geraldo Itatuitim Ruas, um dos primeiros servidores de origem indígena a ocupar postos de comando na Funai. “Imagina o que era para mim, como índio, ouvir a ordem do dia do cabo Vicente, botando todos os presidiários em fila indiana, antes de tomarem um café corrido, e falando que seria metido o cacete em quem andasse errado. E que, para aquele que fugisse, havia quatro cachorros policiais, treinados e farejadores, prontos para agir”, exemplifica. “Eles não trabalhavam no sábado, que era dia de lavar a roupa, costurar, essas coisas todas. Mas, durante a semana, era trabalho escravo!”
Frente a essa realidade, Ruas afirma ter procurado o ministro do Interior – Maurício Rangel Reis, morto em 1986 – para discutir o fim da instituição correcional. Um encontro do qual diz ter saído sob ameaças de demissão. Mesmo assim, ele conta ter começado a enviar, de volta às aldeias de origem, diversos dos confinados. Ruas perdeu seu cargo pouco tempo depois.
Mas enquanto alguns saíam, a Fazenda Guarani ainda recebia, em meados da década de 1970, outras levas indígenas fruto de litigâncias fundiárias no Brasil. Foi o que ocorreu com os guaranis da Aldeia Tekoá Porã, em Aracruz (ES).
Os guaranis, explica o cacique Werá Kwaray – que passou parte da sua adolescência em Carmésia –, caminham pelo mundo seguindo revelações. E foi uma revelação que levou o seu grupo a sair do sul do país, na década de 1940, em busca da “terra sem males” – local onde, segundo as crenças da etnia, é possível alcançar uma espécie de perfeição mística, algo como um paraíso na terra. Liderados por uma xamã, chegaram a Aracruz duas décadas depois. Mas sobre aquele lugar também repousavam planos para viabilizar enormes plantações de eucalipto, um choque de interesses levou os indígenas, sob pressão e a contragosto, para a Fazenda Guarani. “Foi uma violação dos direitos sagrados dos nossos líderes religiosos”, expõe o cacique.
Depois de alguns anos em Carmésia, os guaranis retornaram a Aracruz, onde, em 1983, conseguiram a homologação da área indígena que habitam até hoje.
A virada dos anos de 1970 para os anos de 1980 marca as últimas denúncias sobre o uso da Fazenda Guarani como local de prisão, confinamento ou despejo de índios “sem terra”. Todos foram embora do local, à exceção de um grupo pataxó que lá se instalou definitivamente após sair de áreas em Porto Seguro (BA). Atualmente, o casarão que servia como sede aos destacamentos policiais foi convertido em moradia para alguns desses indígenas. E a antiga solitária local virou um depósito onde se empilham os cachos de banana abundantemente colhidos nas redondezas.
fonte: Brasil de Fato

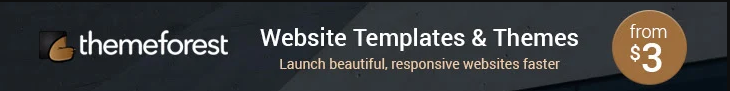
Sem comentários
Enviar um comentário