Homenageado da nona edição da Festa Literária Internacional de Paraty, o modernista e antropófago Oswald de Andrade tem sua obra inovadora reavaliada no Prosa & Verso especial deste sábado, que discute a atualidade de seu pensamento sobre a cultura brasileira e traz todas as informações sobre o evento, que começa quarta-feira.
Organizadores de três títulos recém-lançados sobre Oswald, o professor de Literatura da Uerj João Cezar de Castro Rocha, o escritor Luiz Ruffato e a professora de Teoria Literária da Unicamp Maria Eugenia Boaventura conversam com o repórter Guilherme Freitas sobre a evolução do pensamento oswaldiano e sua relevância na sociedade brasileira contemporânea. A repórter Marcia Abos entrevista Antonieta Marília, filha de Oswald, sobre as lembranças e o legado do pai. O escritor e crítico Eduardo Sterzi assina um artigo sobre o experimentalismo na obra do autor do Manifesto Antropófago.
Além da programação completa da Flip e dos eventos paralelos que acontecerão em Paraty de quarta-feira a domingo, o caderno fala ainda de outros convidados do evento: Miguel Conde entrevista Caryl Philips, autor nascido na ilha caribenha de São Cristóvão e criado na Inglaterra, sobre o romance "A travessia do Rio", que fala da escravidão a partir de episódios que fogem à narrativa convencional. Álvaro Costa e Silva resenha o novo livro de James Ellroy, "Sangue errante", que encerra sua ambibiosa trilogia sobre as turbulências sociais dos Estados Unidos dos anos 1960. E José Castello escreve sobre "a máquina de fazer espanhóis", romance que o português valter hugo mãe lançará em Paraty.
***
por Eduardo Sterzi
De todos os escritores do modernismo brasileiro, Oswald de Andrade foi o mais radicalmente experimental. Com companheiros de primeira hora modernista como Manuel Bandeira e Mário de Andrade — o primeiro um pouco mais velho, o segundo um pouco mais novo —, compartilhou a imensa tarefa de inventar uma modernidade literária afirmativa (modernidade, antes de tudo, como desejo de ser moderno, ainda que não se soubesse, ou precisamente porque não se sabia, o que significava ser moderno) num quadro cultural ainda dominado, tanto no plano institucional quanto no gosto do público, por remanescências de orientações artísticas das últimas décadas do século XIX: romantismo, parnasianismo, simbolismo, naturalismo... Trabalhavam, em larga proporção, a partir dessas mesmas remanescências, que constituíam, por assim dizer, seu repertório de base (eram, afinal, homens de seu tempo, por mais que sonhassem com a emergência de outra temporalidade), combinando-as com informações mais ou menos atualizadas, mas inevitavelmente fragmentárias, provenientes da Europa, nas quais as novidades disruptivas das vanguardas muitas vezes não se distinguiam com clareza das persistências bem mais acomodatícias das escritas finisseculares ou decadentistas.
Bandeira — que, ao contrário de Mário e Oswald, foi fundamentalmente poeta — conservaria ao longo de toda sua obra a memória vívida das poéticas ancestrais que conhecia como poucos. “O verso verdadeiramente livre”, escreve em “Itinerário de Pasárgada”, “foi para mim uma conquista difícil.” Só lentamente, admite, corrigiu “o hábito do ritmo metrificado, da construção redonda” que lhe era congenial. No entanto, como ele mesmo observa, vários de seus versos livres “ainda acusam o sentimento da medida”, permitindo o flagrante de “uma como saudade a repontar aqui e ali”. (Em contraste, dizia Oswald de sua própria poesia: “Eu nunca fui capaz de contar sílabas. A métrica era coisa a que minha inteligência não se adaptava, uma subordinação a que me recusava terminantemente”.) Mário — que, como Oswald, espraiou sua escrita pelos mais variados gêneros e formas, assim como pelos mais diversos campos do saber, não se limitando, também como Oswald, aos restritos domínios da literatura — construiu uma obra inegavelmente menos apegada aos modelos do passado do que a de Bandeira (o que, assinale-se, não implica nenhum juízo de valor). No entanto, se comparamos as suas realizações às de Oswald, elas logo se revelam muito mais convencionais, muito mais submissas às expectativas públicas e institucionais acerca da literatura, acerca do papel e do lugar do escritor, do intelectual.
Em Oswald, experimento (artístico) e experiência (vital) jamais se separam. Sua obra é atravessada pela mesma inquietude permanente que atravessa sua vida, e não por acaso esta alimenta aquela constantemente, fornecendo-lhe personagens e situações (o que fica mais evidente em seus romances) e induzindo a bruscas mudanças de perspectiva (o que se verifica de modo exemplar no prefácio acerbamente autocrítico de “Serafim Ponte Grande”, onde o Oswald comunista dos anos trinta desaprova o Oswald vanguardista dos anos vinte, e vice-versa na tese “A crise da filosofia messiânica”, onde denuncia, com base nos pressupostos antropofágicos, o teor messiânico do marxismo e sua rendição à “economia do Haver” característica do Patriarcado). É infrutífero tentar datar com precisão o momento inaugural de sua trajetória literária. 1911, quando funda o semanário satírico “O Pirralho”? 1916, quando publica, com Guilherme de Almeida, duas peças teatrais em francês, “Mon coeur balance” e “Leur âme”? 1922, quando lê no Teatro Municipal de São Paulo, dentro da programação da hoje mítica Semana de Arte Moderna, trechos de seu romance “Os condenados”? Ou melhor seria eleger o triênio de 1923 a 1925, quando, deixando para trás — e, por vezes, convertendo em objeto de paródia — o estilo decadentista dos textos anteriores, dá por compostos e publica seus dois primeiros livros marcadamente vanguardistas, o romance “Memórias sentimentais de João Miramar” e a coleção de poemas “Pau Brasil”? Como ocorre com todo artista verdadeiramente experimental, Oswald oferece em sua obra algo como uma incessante reproposição da origem: cada texto parece produzir um novo momento originário, cada poema, romance, peça ou ensaio parece cifrar menos uma mera mudança de rumo que todo um novo percurso por trilhar, toda uma nova aventura. Daí que a crítica menos afim o tenha acusado, com alguma frequência, de realização malograda ou mesmo de irrealização. Daí também o clichê pseudocrítico segundo o qual Oswald, sobretudo em confronto com o erudito Mário de Andrade, era mais um homem de intuição do que um homem de estudo (como se tal dicotomia tivesse algum sentido onde o experimento, mescla inextricável de arroubo e pesquisa, é o método...).
O motor íntimo da experimentalidade de Oswald parece ter sido o esforço constante para se libertar dos preconceitos e recalques de uma educação católica e conservadora no seio da elite paulista. Seu definitivo salto intelectual está em ter compreendido que a estrutura repressiva em que se formara não era exclusividade de sua família nem do seu imediato ambiente circundante, mas se confundia com a própria história da civilização ocidental, que, na grande narrativa histórico-filosófica que passa a embasar os instantes mais significativos de sua obra, é a história da substituição do Matriarcado originário — sociedade sem classes, sem separações — pelo Patriarcado até agora vigente. Dialética que, de um ponto de vista militante, comporta a utopia de um terceiro momento de constituição de um novo Matriarcado por meio do desenvolvimento da técnica, que supostamente nos libertaria da escravidão do trabalho e nos destinaria a uma nova “Idade do Ócio” — e note-se que a “partilha do ócio” era, para Oswald, a questão política central. Mas só a técnica não basta. Em “A crise da filosofia messiânica”, tese universitária de 1950 em que retoma e busca dar consistência filosófica aos temas propostos fulgurantemente na escrita fragmentária do “Manifesto antropófago” de 1928, Oswald, quase no encerramento de sua trajetória (morreria quatro anos depois), deixa clara a natureza da insistente pesquisa que conjuga seus textos propriamente literários a seus textos, digamos, ensaísticos ou, em sentido amplo, teóricos: “Será preciso criar uma Errática, uma ciência do vestígio errático, para se reconstituir essa vaga Idade de Ouro, onde fulge o tema central do Matriarcado”. É essa Errática, com seu inventário das imagens de liberdade inscritas nas prisões do presente — nas prisões das atitudes convencionais, dos sonhos aceitáveis, da arte apaziguada, da língua padronizada —, que vemos em ação nos poemas de “Pau Brasil” e do “Primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade”, nos episódios de “Memórias sentimentais de João Miramar” e “Serafim Ponte Grande” e nas ações das três peças políticas da década de 1930, “O rei da vela”, “O homem e o cavalo” e “A morta”. O outro nome dessa “ciência do vestígio errático” é Antropofagia, que por muito tempo continuará a ser o grande presente de Oswald para o pensamento contemporâneo.
* escritor e crítico, professor da FAAP, autor de “A prova dos nove: alguma poesia moderna e a tarefa da alegria” (Lumme) e “Cavalo sopa martelo: teatro político” (Dobra)
***
'Oswald pertence ao século XXI', diz filha do autor
por Márcia Abos
"Quando chegará a era de Oswald de Andrade?” Quem pergunta é Antonieta Marília de Oswald de Andrade, de 65 anos, única filha viva do escritor modernista, o grande homenageado desta edição da Flip. Ela mesma responde, com a crença de que seu pai, mais de meio século após sua morte, terá o reconhecimento merecido. Figura de importância fundamental para a homenagem que o evento fará ao modernista, Marília lembra que se surpreendeu com a notícia, mas prontamente aceitou o convite do curador Manuel da Costa Pinto para auxiliá-lo na criação de uma exposição com material inédito sobre vida e obra de seu pai, a maior parte vinda do acervo da Unicamp.
— Lembro que em 1990, centenário de nascimento de Oswald, houve uma grande badalação. Muita gente me procurou para falar sobre meu pai. Sei que era uma cobrança sem sentido, mas perguntava: como vocês vêm comemorar, reconhecer sua importância, se o deixaram morrer no esquecimento? Hoje essa revolta amainou e vivo um momento de grande alegria com a homenagem da Flip. Meu primeiro pedido ao Manuel foi que dirigisse essa curadoria à juventude. É meu sonho que sua obra chegue aos jovens e ele não seja apresentado apenas como a grande figura da Semana de Arte Moderna de 1922, porque isso é velho e o engessa. Oswald pertence ao século XXI, esteve muito à frente de seu tempo — diz Marília, sentada em frente a um desenho de seu pai feito por Cândido Portinari, que ocupa um lugar de destaque na sala de estar de sua casa, junto com obras de Clóvis Graciano, Cícero Dias e Tarsila do Amaral.
Marília não herdou de seu pai este acervo. A única obra que restou da coleção de Oswald foi o quadro de Cícero Dias. Ela também guarda com orgulho a cadeira preferida do pai e três esculturas enigmáticas de madeira, de autor desconhecido, garimpadas por Oswald em suas andanças pelo Brasil. Todo o resto foi vendido — “na bacia das almas”, lembra Marília — por sua mãe, Maria Antonieta D’Alkmin, depois que Oswald morreu e a jovem viúva teve de quitar dívidas e sustentar sozinha os dois filhos pequenos do casal. Marília estava prestes a completar nove anos e, junto com seu irmão caçula, Paulo Marcos, enfrentou a dolorosa perda “do sol majestoso” de suas vidas.
“Ouvi-o muitas vezes queixar-se, desencorajado, de que suas ideias não eram aceitas, sua obra não era lida e talvez seu valor nunca chegasse a ser reconhecido”, escreveu Marília em “Maria Antonieta D’Alkmin e Oswald de Andrade — Marco Zero” (Edusp), livro no qual apresenta as memórias de sua mãe em 14 anos de convivência com Oswald, fotos e dedicatórias escritas pelo pai em livros com os quais costumava presentear a amada.
— Para mim, a mais emocionante destas dedicatórias diz assim: “Antonieta, eu quero que você me continue”. Ele escreveu pressentindo que não lhe restava muito tempo — conta a filha, emocionada.
Seu nome nasceu de uma destas dedicatórias. Oswald escreveu, numa primeira edição de “Marília de Dirceu”, de Tomás Antônio Gonzaga: “Para Maria Antonieta D’Alkmin, minha musa realizada”. Quando recebeu o presente, Maria Antonieta estava grávida da menina que seria batizada como Antonieta Marília, a “Antonieta musa” de Oswald.
— Ele era um sol tão majestoso que me afastava, um afeto tão grande que jamais tive igual. Foi uma paixão muito grande e essa relação com meu pai idealizado me afastava do escritor — lembra Marília. — Na minha infância, ninguém o lia, ninguém o conhecia. E eu não tinha a força de minha mãe, que dizia com orgulho: “ele é o maior escritor que já existiu”. Eu era rata de livraria e nunca encontrava obras de meu pai. Quando ele ressurgiu em minha vida, minha mãe e meu irmão já haviam morrido tragicamente (Paulo Marcos morreu em 1969 num acidente de carro e Maria Antonieta não resistiu à perda do filho, suicidando-se meses depois).
Ela conta que conviveu intensamente com o pai durante seus primeiros nove anos de vida, num ambiente “de muita força de coesão e imensa paixão entre os pais”. Desse ambiente participavam seus meio-irmãos Nonê — José Oswald Antônio de Andrade (1914-1972), filho de Oswald com Henriette Denise Boufflers, a Kamiá — e Rudá de Andrade (1930-2009) — filho de Oswald com Patrícia Galvão, a Pagu.
O pai sempre a chamou pelo nome completo. Observava com orgulho a pequena dançar pela casa e dizia: “Antonieta Marília, você será como Isadora Duncan”. Na época ela não entendia e nem sonhava que se tornaria bailarina, participaria da criação de “Kuarup”, do Ballet Stagium, e dançaria na floresta para os índios do Xingu, experiência que mudou sua vida e a levou a descobrir a obra de seu pai. Tampouco imaginava que se tornaria a maior estudiosa de Isadora Duncan no Brasil, fundaria o Departamento de Artes Corporais e o Curso de Graduação em Dança da Unicamp, enquanto trilharia, paralelamente, uma carreira acadêmica em psicologia.
— Só aos 28 anos comecei a ler Oswald. A montagem de “Kuarup” começou a me transformar, me revirou a cabeça. Ir ao Xingu mudou minha vida. Depois disso, ler o “Manifesto antropófago” foi fácil — diz Marília, contando que está relendo “Um homem sem profissão”, primeira parte da autobiografia inacabada de Oswald.
Marília teve o primeiro relance da importância da obra de seu pai em 1967, ao assistir à encenação de “O rei da vela”. Na época, morava no Rio e recebeu com apreensão o telefonema do irmão, Paulo Marcos, que acompanhou de perto a criação do espetáculo dirigido por José Celso Martinez Corrêa para escrever uma reportagem sobre o espetáculo para a “Folha de S.Paulo”.
— Lembro-me de esperar no saguão do teatro, pensando “ai meu Deus, como vai ser isso?” À medida que assistia ao espetáculo, percebi o quanto era maravilhoso, como meu pai escrevia bem e era incrível — conta ela, lembrando uma comoção compartilhada com muitos brasileiros.
***
O método selvagem de Oswald
por Guilherme Freitas
Em 1940, quando tinha 50 anos e já era reconhecido como um autor central na literatura brasileira (mas ainda longe da unanimidade atual), Oswald de Andrade lançou uma candidatura-protesto à Academia Brasileira de Letras. Durante a campanha, publicou cartas abertas com críticas pesadas aos adversários e à própria ABL, acusando-a de elitismo. Terminou com apenas um voto (Manuel Bandeira foi eleito), mas deixou como documento definitivo de sua personalidade um anúncio de jornal em que aparecia usando máscara de gás, ao lado do texto: “Meu destino é o de um paraquedista que se lança sobre a formação inimiga: ser estraçalhado”.
Performances como essa fizeram de Oswald um personagem pitoresco da vida literária nacional, muitas vezes lembrado mais pela verve incendiária de seus manifestos e intervenções públicas do que pela consistência teórica. Dois livros recém lançados, “Oswald de Andrade — Estética e Política” e “A alegria é a prova dos nove” (ambos publicados pela Editora Globo), procuram desfazer essa percepção equivocada através da compilação de textos escritos pelo autor ao longo da vida, mostrando a evolução (nunca linear) de seu pensamento sobre os grandes temas de sua obra.
Organizador de “A alegria é a prova dos nove”, o escritor Luiz Ruffato passou meses revisando as obras completas de Oswald para preparar o livro, que reúne fragmentos de textos do autor agrupados por categorias temáticas. Há seções dedicadas a aspectos autobiográficos, reflexões teóricas sobre antropofagia, modernismo e poesia, comentários sobre outros autores e sobre a própria atividade do escritor, e tentativas de dar conta de suas idas e vindas políticas, entre outros tópicos. Da leitura cuidadosa desses textos, Ruffato viu emergir um pensador que pouco ou nada tem a ver com a imagem que se costuma atribuir a ele.
— A obra de Oswald sofreu muito com a imagem de porra-louca que se consolidou em torno dele. Falou-se tanto nisso que muita gente não o encarou, e ainda não encara, como o pensador sério e inovador que foi. O que Oswald tem menos, a meu ver, é porra-louquice. Mesmo com suas contradições, ele sempre foi coerente — observa Ruffato.
Ele cita como exemplo desse percurso coerente, mas por vezes contraditório, a conflituosa trajetória política de Oswald. Filho da burguesia paulistana, o escritor foi entusiasta dos conservadores durante a República Velha (em 1926, o então presidente Washington Luís foi padrinho de seu casamento com Tarsila do Amaral). Mais tarde, aderiu ao Partido Comunista, mas rompeu com ele ao perceber que “o stalinismo sufocava suas ideias sobre a liberdade”, explica $, que encontra sentido nessa atividade política aparentemente errática:
— Politicamente, Oswald sempre teve preocupações sociais, mas não conseguiu se desprender de sua classe — resume, ecoando observações do próprio Oswald reunidas em “A alegria é a prova dos nove” (“Do meu fundamental anarquismo jorrava sempre uma fonte sadia, o sarcasmo. Servi a burguesia sem nela crer”, lê-se num trecho do romance “Serafim Ponte Grande” que o organizador considera um “autorretrato”).
Esse aspecto da obra de Oswald também é um dos eixos de “Estética e política”, organizado pela professora de Literatura da Unicamp Maria Eugênia Boaventura. Publicado pela primeira vez em 1992, como uma versão mais abrangente da compilação de textos críticos “Ponta de lança” (1945), o livro ganhou material inédito nesta nova edição, como artigos em que Oswald discute as obras de Raul Bopp e Brecheret, entre outros.
Cobrindo quase meio século de vida pública, a coletânea reúne crônicas para jornais, resenhas e ensaios de mais fôlego (como “O antropófago”, de 1950, que se aprofunda nos aspectos históricos e filosóficos do movimento dos anos 1920). Autora de uma biografia ilustrada de Oswald (“O salão e a selva”, publicada em 1996 pela editora Unicamp e premiada com o Jabuti), Maria Eugênia considera a articulação entre estética e política uma das marcas permanentes da obra de um pensador que, ao longo da vida, foi muitos:
— Basta lermos “Memórias sentimentais de João Miramar”, de 1924, um texto que instaura novos parâmetros de linguagem na ficção do momento e, ao mesmo tempo, traça um cáustico perfil da burguesia endinheirada com essa linguagem. E, o melhor de tudo, com muito humor.
***
Oswald: a atualidade do 'canibal cultural'
por Guilherme Freitas
Reedição significativamente ampliada de uma coletânea publicada em 1999, o livro “Antropofagia hoje? Oswald de Andrade em cena” (É Realizações Editora) $úne textos de 43 colaboradores que de alguma forma gravitam no universo oswaldiano, entre intelectuais que o inspiraram e outros que se inspiraram nele, passando por décadas de estudos dedicados a sua obra. Em entrevista ao GLOBO por e-mail, o professor $literatura da Uerj João Cezar de Castro Rocha, organizador da nova edição, diz que Oswald fez do choque entre culturas um “estímulo constante” e deixou a lição de que o intelectual deve procurar ser “uma pedra no sapato de seu tempo”.
Na introdução a essa nova edição de “Antropofagia hoje?”, você menciona as formulações de Luiz Felipe de Alencastro sobre a necessidade de pensar o Brasil a partir da noção de "descentramento". Como essa noção pode iluminar a obra de Oswald, que, como você lembra no texto, só começou a "descobrir" o Brasil depois de vê-lo do exterior?
JOÃO CEZAR DE CASTRO ROCHA: No fundo, é a antropofagia que ilumina a importante obra do Luiz Felipe de Alencastro! Oswald inventou uma forma ousada de superar o falso dilema entre empenho nacional e vocação cosmopolita. Tal forma torna produtiva a circunstância de compreender o próprio a partir da perspectiva descortinada pelo alheio. Ora, essa era a contradição central do Modernismo, qual seja, ver o Brasil com os olhos livres, do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, porém com lentes fornecidas pelas vanguardas europeias. Os líderes do movimento, Mário e Oswald, procuraram enfrentar esse dilema de origem. No reconhecimento lhano de Mário de Andrade: “(...) o espírito modernista e as suas modas foram diretamente importados da Europa”. Contradição a que Oswald respondeu com o Manifesto Antropófago, transformando o dilema inegável em estímulo constante: “Só me interessa o que não é meu. Lei do outro. Lei do antropófago”. Contudo, nossos melhores críticos e teóricos ainda não souberam apreender a lição oswaldiana: um autor de peso vale precisamente por não estar preso a nenhum dos dois polos — o nacional ou o estrangeiro; o próprio ou o alheio. Pelo contrário, a medida de sua grandeza consiste precisamente em oscilar entre os dois vetores, colocando-os em diálogo tenso e, por isso mesmo, produtivo. Essa, aliás, a lição de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, que escreveram, respectivamente, “Casa-grande & senzala” (1933) e “Raízes do Brasil” (1936), depois de reveladoras permanências no exterior.
Nessa mesma introdução, você propõe que se tome a antropofagia como modelo teórico de apropriação da alteridade. Como esse modelo se constituía à época dos manifestos de Oswald? Como ele pode operar hoje?
CASTRO ROCHA: Nos anos 1920, inventar formas criativas de relacionamento com o outro era uma verdadeira questão de Estado. Basta lembrar a rivalidade franco-alemã que, desde 1871, não cessou de produzir hostilidades. Em alguma medida, essa rivalidade originou as duas Guerras Mundiais. O problema apenas se agravou com o avanço do nazifascismo, $intolerância consistia, no fundo, em negar radicalmente o direito do outro ser... outro, ou seja, ele mesmo e não um simples espelho do sujeito narcísico. Nesse sentido, a contribuição oswaldiana, na forma da antropofagia, significou um diálogo pelo avesso com essa circunstância histórica, pois se tratava de afirmar a centralidade do outro na definição do eu. Por isso, o seu interesse permanece cada dia mais atual, pois, num mundo dito globalizado, imaginar formas de apropriação da alteridade voltou a ser um fator decisivo.
A nova edição inclui uma seção com textos literários que de alguma forma anteciparam os temas ligados à antropofagia e outros que se inspiraram posteriormente nela. A seu ver, quais foram as contribuições mais significativas de Oswald para a literatura brasileira, em termos estéticos?
CASTRO ROCHA: Em primeiro lugar, recordo que Augusto, Haroldo de Campos e Décio Pignatari foram fundamentais na reavaliação da radicalidade da poesia e do experimentalismo da prosa de ficção de Oswald de Andrade — é sempre preciso re$a importância dos estudos pioneiros de Haroldo de Campos. No teatro, a antológica encenação de “O rei da vela” realizada por Zé Celso em 1967 foi o ponto de virada para um novo entendimento da contribuição oswaldiana. Agora, há um lado que precisa ser mais valorizado e que tende a tornar-se cada vez mais importante. Penso no desenvolvimento de uma prosa ensaística com fôlego filosófico — mas não se esqueça do brilho com que Benedito Nunes estudou essa faceta da obra oswaldiana. Ora, as “teses” acadêmicas que Oswald escreveu — “A Arcádia e a Inconfidência” (1945) e, especialmente, “A Crise da Filosofia Messiânica” (1950) — e o conjunto de artigos publicados postumamente — “A Marcha das Utopias” (1966) — constituem uma fonte incontornável de provocações filosóficas e intuições antropológicas que exigem uma leitura inovadora, a fim de evidenciar o caráter sistemático da noção de antropofagia, ou seja, de canibalismo cultural.
O volume também reúne um grande número de manifestos e textos críticos que de certa forma derivam dos manifestos oswaldianos. Que lições ele deixou sobre o posicionamento do intelectual dentro da sociedade?
CASTRO ROCHA: A lição mais importante: o intelectual deve sempre ser a pedra no sapato do seu próprio tempo, propondo ideias complexas na contramão do falso didatismo pop, formulando questões incômodas, em lugar de assumir a máscara próspera mas empobrecedora do funcionário do contemporâneo. Oswald nunca se acomodou e, se é verdade que sofreu muito com o ostracismo a que foi injustamente relegado, nem por isso abandonou a combatividade e a certeza de seu lugar na história das ideias. $único exemplo: o inesquecível episódio narrado por Mário da Silva Brito, envolvendo um jovem poeta que subestimou o poder de fogo do antropófago. Em meio a um debate ácido, decidiu chamá-lo de “Calcanhar de Aquiles do Modernismo”. Sem pensar duas vezes, Oswald inventou o apodo arrasador: o jovem poeta, então, seria o “chulé de Apolo”... Oswald podia ter envelhecido, porém continuava afiado.
Como estão hoje os estudos oswaldianos? Em que campos da academia a obra dele é mais influente? O que ainda precisamos descobrir na obra de Oswald?
CASTRO ROCHA: Desde os anos 1970, os estudos oswaldianos, e não apenas no Brasil, só fazem crescer. A potência oswaldiana de apropriação do alheio para a transformação do próprio pensamento tem estimulado uma das mais originais formulações da antropologia contemporânea: o perspectivismo; reflexão desenvolvida por Eduardo Viveiros de Castro. O antropólogo considera a antropofagia “uma arma de combate contra a sujeição cultural da América Latina, índios e não-índios confundidos, aos paradigmas europeus e cristãos. O perspectivismo é a retomada da antropofagia oswaldiana em novos termos”. Os estudos literários e a crítica cultural ainda não foram capazes de responder à potência da antropofagia oswaldiana com o vigor e a inteligência de Eduardo Viveiros de Castro. Provavelmente o caminho mais promissor dos futuros estudos oswaldianos será precisamente a exploração sistemática das possibilidades abertas pela antropofagia.
via Prosa Online

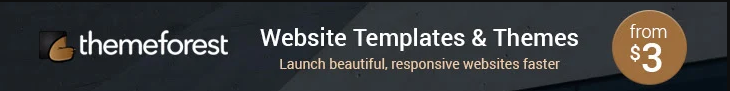

Sem comentários
Enviar um comentário