Comemorando 10 anos no mercado editorial brasileiro, revista embarca na expedição do arqueólogo Eduardo Neves e descobre uma Amazônia de mil anos atrás até hoje desconhecida, onde uma população de mais de cinco milhões de habitantes já usufruíam de uma sofisticada cultura.Em maio de 2000, a revista National Geographic desembarcava no Brasil por meio do licenciamento da marca pela Editora Abril. Hoje, ao completar 10 anos de sucesso no mercado editorial brasileiro, a publicação segue cumprindo sua missão de levar conhecimento e beleza aos seus leitores, e apresenta uma história de (re)descobrimento do Brasil com fatos inéditos ao senso comum – e até ao acadêmico. Coordenada pelo brilhante arqueólogo Eduardo Neves, uma expedição aos sítios da Amazônia levanta fortes indícios da existência de civilizações com origens pré-coloniais, revelando autores de uma arte sofisticada. A reportagem de capa da edição de aniversário de National Geographic Brasil, assinada pelo próprio Neves, interpreta com maestria as descobertas deste passado achado nos sítios arqueológicos.
Nas páginas de National Geographic Brasil de maio, os leitores terão acesso a dados que contrapõem o que se aprende nas escolas sobre a história do Brasil. A Amazônia estava repleta de sociedades indígenas no ano 1000, algumas hierarquizadas, lideradas por chefes supremos, capazes de comandar um exército de guerreiros. Com uma população estimada em mais de 5 milhões de pessoas, a maior floresta tropical do planeta nesta época já era berço de profundo florescimento cultural. Antes mesmo de a Renascença surgir na Itália, cerâmicas com padrões gráficos sofisticados já eram produzidos em Marajó e nas regiões de Manaus e Santarém – esta, talvez, seja a cidade brasileira mais antiga com origens pré-coloniais. link
via Agência Amazônia
Amazônia - Ano 1000
Urna funerária da cultura Guarita (entre os séculos 9 e 16), civilização que viveu nas proximidades da atual cidade de Manaus.
Enquanto o Velho Mundo vivia nas trevas da Baixa Idade Média, civilizações experimentavam no Brasil um florescimento cultural.Contemporâneos dos incas e dos maias, eram autores de uma arte sofisticada. Só agora a arqueologia começa a decifrar quem foram esses antigos habitantes da terra brasilis.
Se pudéssemos voltar no tempo e visitar a Amazônia de mil anos atrás, veríamos um mundo diferente. Não haveria a grande área desmatada e ocupada por pastagens e cultivos do sul e do sudeste da região, no atual Pará. Em trechos hoje cobertos por selvas densas, se destacariam sinais claros de ocupação humana: grandes aldeias ou mesmo cidades, cercadas de áreas de roças e de matas secundárias, ligadas umas às outras por largos e longos caminhos. Em alguns locais, centros cerimoniais desenhados por alinhamentos de pedra estariam dispostos em circulos. Em pontos distantes como a ilha de Marajó é do Acre, por exemplo, aterros artificiais eram espaços de moradia e rituais. E, no que é a Amazônia boliviana, poderíamos contemplar um labirinto de diques, barragens e canais distribuído por milhares de quilômetros quadrados.
Ao contrário da imagem corrente de que a Amazônia sempre foi indômita e escassamente ocupada, a maior floresta tropical do planeta estava, no ano 1000, repleta de sociedades indígenas. Algumas eram hierarquizadas, lideradas por chefes supremos, capazes de comandar um exército de guerreiros. Outras estavam resumidas a grupos pequenos e nômades de caçadores e coletores que usavam zarabatanas para matar macacos e outros animais. Acima de tudo, tais sociedades eram compostas de povos que falavam línguas variadas - mais diferentes entre si do que são hoje, por exemplo, o português e o russo.
Em alguns aspectos, a Amazônia do ano 1000 não era diferente da Europa naquele mesmo período. O francês Jacques Le Goff, um dos mais importantes historiadores da Idade Média, mostrou como seria possível identificar na Europa áreas de bosque entremeadas a pequenas cidades, algumas delas fortificadas, conectadas por redes de caminhos em que ocorria o comércio. Mas uma diferença entre a Amazônia e o Velho Mundo era que, devido à escassez de rochas, a matéria-prima para a construção na floresta sempre foi a terra. É por isso que sítios arqueológicos com aterros ou valas são tão comuns na região. Muitos deles se encontram ainda cobertos pelas matas que cresceram de novo após o início da colonização europeia, quando houve queda brusca na população nativa por causa da propagação de doenças, da guerra e da escravidão.
Uma jornada ao longo do rio Amazonas pode ser reveladora de como a população amazônica - talvez mais de 5 milhões de pessoas - desapareceu de forma abrupta: desde Macapá, perto da foz, até Tabatinga, na fronteira com a Colômbia e o Peru, no alto Solimões, despontam incontáveis sítios arqueológicos, alguns deles ocupados até o início do período colonial. Por outro lado, o número de terras indígenas nessas mesmas áreas é pequeno, com exceção da região do alto Solimões. A explicação é simples: a calha do Amazonas e do Solimões estava repleta de índios até o século 16, mas eles foram os primeiros a perecer com a colonização. Atualmente, as maiores terras indígenas no Brasil ficam longe da calha do Amazonas, em locais como o alto rio Negro, Roraima, Acre, Rondônia ou o alto Xingu.
Enquanto a europa vivia a Baixa Idade Média e lutava para reconquistar a península Ibérica dos árabes, os povos da Amazônia vivenciavam, nessa mesma época, profundo florescimento cultural. Alguns séculos antes de a Renascença surgir na Itália, cerâmicas com padrões gráficos sofisticados eram produzidas em Marajó e nas regiões de Manaus e Santarém - esta última, talvez, a cidade mais antiga do Brasil. A civilização marajoara protagonizou quase mil anos de história, tendo desaparecido antes da chegada dos europeus. Seu apogeu, no entanto, parece ter ocorrido ao redor do ano 1000. Esculturas de pedra eram esculpidas na foz do rio Trombetas, próximo da atual Oriximiná, onde havia também centros de produção de muiraquitãs, pequenas esculturas lapidadas em pedra polida em forma de animais ou seres humanos. No alto Xingu, grandes aldeias circulares eram cons-truídas com urbanismo igualmente sofisticado e inovador, assim como outras aldeias floresciam no Acre, marcadas com estruturas geométricas agora conhecidas como geoglifos.
A pesquisa em sítios arqueológicos é o caminho óbvio ao estudo dessas diferentes histórias de ocupação. No entanto, resistem no presente amazônico outras evidências, às vezes tão antigas quanto os próprios sítios, que também podem nos revelar dados sobre o passado. Um exemplo: as matas de castanhais abundantes. Quem já andou em um castanhal sabe que essa é uma jornada quase mística: as árvores são imensas e ultrapassam a altura média da copa da floresta, pilhas da casca da fruta da castanha (os ouriços) espalham-se pelo chão e animais como as cutias podem ser vistos correndo de um lado para outro. Uma castanheira demora décadas para crescer e começar a frutificar. Muitos castanhais têm centenas de anos de idade.
Sabemos hoje que a dispersão dessas árvores ocorreu a partir de um centro original no leste do Pará. E também sabemos que existem na natureza apenas dois animais que conseguem quebrar a casca do ouriço e dispersar sua castanha: a cutia e o Homo sapiens. Assim, é certo que a dispersão dos castanhais se deu por meio da atividade humana. Ao mesmo tempo, a baixíssima variabilidade genética entre castanheiras localizadas em pontos distintos da Amazônia, como se os espécimes tivessem sido clonados, sugere que o processo de dispersão foi recente e começou 2 mil anos atrás - em sincronia com o processo de florescimento cultural, indicado nos sítios. Ou seja, castanhais são não apenas produto da natureza mas também resultado concreto da presença humana ancestral na Amazônia.
Entre outros sinais visíveis de atividades antigas, talvez os mais conhecidos sejam as chamadas "terras pretas de índio", os melhores marcadores arqueológicos do surgimento de modos de vida sedentários no passado amazônico. Trata-se de solos muito férteis, de coloração escura, sobre e sob o qual normalmente se dispõem milhares de fragmentos cerâmicos. Podem ser espessos e chegar a mais de 2 metros de profundidade.
Devido a sua fertilidade, as áreas de terra preta são procuradas por agricultores contemporâneos, que reconhecem suas propriedades e sabem que existem ali melhores condições de cultivo.
Durante muito tempo, esses solos foram considerados "naturais" por cientistas. Apenas nos últimos 20 anos, graças às pesquisas pioneiras de Dirse Kern, do Museu Paraense Emilio Goeldi, demonstrou-se que os componentes químicos resultam de antigas atividades humanas. O fosfato, por exemplo, é oriundo dos ossos de animais ali depositados e dos fragmentos de carvão queimados à baixa temperatura. As terras pretas têm outra propriedade: são solos estáveis, capazes de manter por décadas ou séculos condições de alta fertilidade. Essa condição é uma anomalia em contextos equatoriais, onde, devido à ação das chuvas e da evaporação, os solos não conseguem preservar por muito tempo seus nutrientes.
É comum que solos tropicais sejam ácidos e pouco férteis. As terras pretas, por outro lado, têm pH quase neutro, são férteis e mantêm suas condições de fertilidade. Como explicar tal estabilidade? Não há ainda resposta satisfatória, mas a cada dia fica mais claro que a concentração de fragmentos de cerâmica sustenta uma estrutura física - uma espécie de "esqueleto" que contribui para que o solo se mantenha estável.
Arqueólogos aceitam sem grande problema a ideia de que a Amazônia foi densamente ocupada no passado e que as populações antigas da região deixaram sinais de seus modos de vida nos sítios arqueológicos e nas paisagens contemporâneas. No entanto, uma das questões mais importantes da arqueologia na Amazônia é tentar descobrir o tamanho da população que ocupou a região antes da chegada dos colonizadores portugueses e espanhóis, no século 16. Essa área de pesquisa é chamada de paleodemografia.
"são manchas escuras no meio da terra clara", escuto. Estou em São Paulo e, pelo telefone, analiso a descrição que meu aluno faz do sítio na cidade de Iranduba, perto de Manaus. "As manchas estão alinhadas e dispostas no solo como buracos de postes", continua ele. O jovem arqueó-logo Eduardo Kazuo Tamanaha, que coordena as escavações, imagina ver vestígios de uma casa. Desconfio: essas casas não poderiam ter a estrutura alinhada na forma como ele me descreve... Todavia, a descoberta é em si uma notícia maravilhosa. Esse é justamente um dos objetivos da etapa de escavação: identificar e escavar vestígios de supostas moradias no sítio arqueológico Laguinho, algo que nos ajudaria a ter uma ideia da população local mil anos atrás.
O sítio Laguinho sempre me impressionou. Nós já havíamos escavado ali em outras oportunidades, ao lado de outro orientando, Márcio Castro. É um sítio de 25 hectares sobre um barranco com mais de 30 metros de altura que despenca sobre dois lagos da várzea na margem esquerda do rio Solimões, no Amazonas. O lugar é lindo, e o melhor período para as escavações é o seco mês de julho. A descoberta de Tamanaha foi inspiradora. Em julho de 2009, fui a campo acompanhar os trabalhos. Reuniam-se ali mais de 30 estudantes do Brasil e do exterior, distri-buídos em diferentes partes do sítio. Laguinho é tão grande e complexo que certamente voltaremos muitas vezes para lá. Seu perímetro está atualmente recoberto por uma plantação de mamão, além de pomares e áreas de mata. O lugar é como um mirante, de onde se veem o Solimões e seus baixios alagados. As várzeas de um rio de águas brancas como esse são ricas em peixes, pássaros e répteis.
Os habitantes de Laguinho se aproveitavam dessa fartura de recursos, agora visível nos ossos de animais achados nas escavações.
Estar no alto do sítio Laguinho sempre me inspira a visualizar o passado. A imaginação voa longe. Na época de sua ocupação, os lagos que o cercam estavam todo o tempo cheios de canoas, com pessoas partindo ou chegando de suas roças ou de visita a outras aldeias na região. Nos caminhos que levavam da beira dos lagos ao alto do morro onde fica o sítio, homens e mulheres subiam e desciam carregando peixes, cestos com frutas - o açaí já era extraído - e animais caçados. Na parte alta, crianças corriam de um lado para outro, sujando seus pés na terra preta do chão.
Vestígios indicam que o sítio foi ocupado por pelo menos três povos, em intervalos distintos, do ano 400 ao 1300. A parte mais densa, a extremidade sul, fica em uma península: ali ainda há muitos fragmentos de cerâmica, visíveis até na superfície. E vários aterros artificiais, que chegam a quase 3 metros de altura, os quais serviam de base para a construção de malocas onde viviam famílias. Em 2006 e 2007, nós já havíamos estudado essas partes do sítio e, em 2009, decidimos escavar a área ao norte do istmo, onde a concentração de cerâmica é menor. O objetivo era entender o tamanho das casas para ter uma ideia do tamanho da população dessa pequena cidade. Foi quando Tamanaha encontrou a paliçada defensiva que me fez lembrar as cidades fortificadas da Europa.
Com a descoberta do alinhamento de manchas de buracos de postes no sítio Laguinho, parecia que, finalmente, identificaríamos sinais de casas ocupadas na periferia da cidade. Isso demonstraria certa estratificação social entre os ocupantes do sítio. Nas semanas subsequentes, continuamos a escavação e verificamos que o alinhamento era maior do que pensávamos: ao fim dos trabalhos, ele tinha mais de 40 metros de comprimento e atravessava um istmo que conecta a área central do sítio, que está numa península, à terra firme. Ou seja, o alinhamento não era de uma casa, mas sim de uma paliçada defensiva, uma cerca de madeira que fechava e protegia a área central da antiga aldeia. Como sempre ocorre na arqueologia, procurávamos uma coisa e encontramos outra, diferente.
Os dados obtidos no sítio Laguinho, por sua vez, devem ser combinados com os obtidos nos mais de 100 sítios já identificados pelo Projeto Amazônia Central, coordenado por mim, para que possamos esboçar um quadro paleodemográfico mais elaborado da região. Eles indicam, conforme a escavação de vestígios de paliçadas similares de outros sítios, que a época do ano 1000 foi marcada por conflitos nessa área.
da amazônia central ao oceano Atlântico, perto do qual se localizam importantes centros cerimoniais - caso do Rego Grande, no Amapá -, erigidos centenas de anos antes da catedral de Notre-Dame, em Paris, o rio Amazonas se transforma em uma via fluvial altamente ocupada.
Ao longo da desembocadura do rio Tapajós, ao redor do ano 1000, no mesmo local em que hoje está Santarém, havia talvez outra cidade, parcialmente destruída pelo próprio crescimento de sua equivalente moderna. Se pensarmos sob esse aspecto, Santarém é a cidade mais antiga do Brasil e talvez a única cujas origens remontam a nossa história pré-colonial. Nesse sentido, ela se junta à companhia ilustre de Cusco, no Peru, antiga capital do Império Inca, ou da Cidade do México, erguida sobre a Tenochtitlán dos astecas. As semelhanças com essas duas cidades, no entanto, dizem respeito a suas histórias: Cusco e Tenochtitlán eram capitais de impérios ou Estados centralizados que abrigavam a nobreza, os sacerdotes e uma burocracia organizada.
Esse não foi o caso de Santarém. Até o momento, não se identificaram ali, ou em qualquer outro lugar da Amazônia, estruturas que indicassem algum grau de centralização política ou desigualdade social compatíveis com Estados ou impérios. Mesmo assim, a arqueologia de Santarém mostra um registro bem diferente que a hipótese de limitações ecológicas nos levaria a supor: as populações que ali viviam, conhecidas como tapajônicas, permaneceram séculos
no mesmo local. Eram, portanto, sedentárias.
Embora em estilo diferente, os tapajônicos produziram cerâmicas tão sofisticadas quanto as marajoaras. Nessa mesma região, na margem oposta do rio Amazonas, próximo às cidades de Óbidos e Oriximiná, perto da foz do rio Trombetas, há sítios onde se encontraram cerâmicas parecidas, embora não idênticas, às tapajônicas. Esses sítios são, também, ricos em outros achados: raríssimas estatuetas de pedra polida, de até 50 centímetros de altura, com representações de seres humanos e animais, sugerindo algum tipo de transe xamânico. Restam poucas estatuetas desse tipo conhecidas. Algumas estão em museus brasileiros, como o Emilio Goeldi, em Belém, o Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. A maior coleção, ou talvez a mais bela, está longe do Brasil, embora muito bem guardada - no Museu das Culturas do Mundo de Gotemburgo, na Suécia. Foram coletadas e enviadas para lá na década de 1920 pelo etnólogo alemão Curt Nimuendajú.
As estatuetas da região de Oriximiná, além de sua beleza, têm outro atributo intrigante: a forte semelhança com as estruturas megalíticas encontradas na região de San Augustín, nos Andes colombianos. San Augustín fica a milhares de quilômetros de Oriximiná, embora se encontre tecnicamente próximo às cabeceiras do rio Caquetá, um afluente do rio Solimões. As estátuas de San Augustín são grandes, podem ter 2 metros de altura. Como explicar tais semelhanças, uma vez que nada parecido foi encontrado ao longo dos rios Caquetá, Solimões e Amazonas?
Até o momento, o tema não foi estudado com cuidado. As semelhanças indicam uma possibilidade interessante: o fato de que, nos últimos séculos anteriores à colonização europeia, ocorria intensa circulação de ideias, pessoas e bens atravessando fronteiras culturais, políticas e étnicas pela América do Sul. As semelhanças na iconografia de objetos produzidos em locais tão distantes poderiam ser entendidas com base nessa hipótese. Fora da Amazônia, no sul do Brasil,
é sabido que aventureiros portugueses, como Aleixo Garcia, ainda no século 16, acompanharam índios guaranis em ataques a guarnições incaicas no distante território da atual Bolívia.
É também na região de Santarém que se encontraram o que talvez sejam as cerâmicas mais antigas das Américas, nos sítios de Taperinha e da Caverna da Pedra Pintada, com datas que podem chegar a 6000 a.C., mais antigas que as encontradas na foz do Amazonas. Tradicionalmente, arqueólogos correlacionam o início da produção cerâmica com o advento da agricultura. Na América do Sul, tal correlação não é tão simples: na Amazônia e em outras partes, parece claro que o início da domesticação de plantas antecedeu o início da produção de cerâmica. Em Caral, o centro cerimonial mais antigo das Américas, no litoral do Peru, construído cerca de 5,5 mil anos atrás, dispõe-se uma série de estruturas monumentais de pedra - evidências de agricultura no vale do rio Supe, próximo do qual está o sítio -, mas não há cerâmica associada.
Até hoje é difícil plantar na Amazônia. Quando se pensa na agricultura pré-colombiana, é comum que se esqueça de um aspecto tecnológico fundamental: não havia instrumentos de metal para a derrubada de áreas de cultivo. Todo o trabalho de derrubada, limpeza, preparação e cultivo era feito com objetos de pedra lascada ou polida, madeira, mãos e fogo.
Estudos comparativos realizados por antropólogos mostram que o investimento de tempo na derrubada de árvores com machados de pedra é muito superior ao feito com machados de metal. Assim, faz sentido pensar que os assentamentos indígenas da Amazônia pré-colonial eram estáveis e sedentários. Os dados do Projeto Amazônia Central corroboram essa hipótese. Datações por carbono 14 realizadas em escavações de diferentes sítios mostram que alguns foram ocupados por séculos, aparentemente de maneira contínua. Nada, portanto, mais distante da imagem de que tais sítios teriam sido ocupados por populações nômades com grande mobilidade.
Os povos antigos da Amazônia tinham consciência da alta fertilidade dos solos de terra preta. Todavia, em muitos sítios arqueológicos tais solos estão associados apenas a áreas de habitação, não de cultivo. Isso quer dizer que, em vários contextos, as terras pretas não eram utilizadas na agricultura, pelo menos não na intensiva. Se esses solos eram férteis, mas não aparentemente usados na agricultura, como
explicar sua formação e posterior uso?
Talvez a melhor hipótese seja a de que as terras pretas se constituíram como consequência de um processo de mudança que teve a ver com o estabelecimento da vida sedentária na bacia Amazônica. Tal processo ocorreu, ao longo da calha do Amazonas, há cerca de 2 mil anos, que é a idade dos sítios com terras pretas mais antigas nessa área. No entanto, há locais da Amazônia onde elas são ainda mais velhas, como a bacia do alto Madeira, em Rondônia. Nessa região, o pesquisador Eurico Miller escavou depósitos de terras pretas, datados em 4,5 mil anos, associados a camadas arqueológicas com abundantes vestígios de lâminas de machado de pedra polida. A presença das lâminas indica aumento na derrubada de árvores e abertura de clareiras, isto é, ações de manejo mais intensas da floresta.
A associação desse tipo de artefato com a formação de terras pretas mostra que nessa época ocorreu ali um processo de sedentarização que depois se espalhou por outras áreas da Amazônia. É possível que não seja coincidência que a bacia do alto Madeira tenha sido também a área de domesticação de plantas economicamente importantes, como a mandioca e a pupunha, bem como o centro de origem e dispersão dos grupos falantes de línguas da família tupi-guarani, dentre os quais os tupinambás e os guaranis que ocupavam o litoral atlântico e o sul do país na época do início da colonização europeia.
Se as terras pretas não foram intensamente cultivadas, temos então um paradoxo interessante, que diz respeito às visões construídas pela ciência e pelo senso comum ao longo dos anos acerca da Floresta Amazônica e de seus povos. Tais visões são baseadas em perspectivas de escassez: na Amazônia ancestral, a ausência do Estado, da agricultura e da centralização política foi interpretada por muitos arqueólogos como indicador de uma história incompleta - como se as sociedades indígenas da Amazônia fossem intelectualmente incapazes se comparadas a outras sul-americanas, como aquelas que, por exemplo, ocuparam os Andes centrais. No entanto, o rico legado artístico que essas sociedades nos deixaram, visíveis nos artefatos que produziram, mostra que essa perspectiva está errada.
Uma herança ainda mais rica pode ser apreciada no estudo de suas práticas de vida milenares, estáveis e bem adaptadas às condições ecológicas complexas da Amazônia. Nossa sociedade, apesar dos avanços tecnológicos admiráveis que tem alcançado, não descobriu ainda uma fórmula que reproduza, com o mesmo sucesso, certas formas sofisticadas de conhecimento, hoje enterradas nos sítios arqueológicos da região.
As terras pretas ocultam um tesouro de informações sobre os modos de vida ancestrais, além de outros sinais mais sutis do processo de ocupação dos sítios. Para entender esses sinais, serão necessários ainda muitos anos de pesquisas na Amazônia. Rios inteiros, como o Juruá, mal foram estudados. À medida que as pesquisas avancem, novas surpresas sobre o passado surgirão. Porém, apesar do ritmo lento com que trabalham em campo, escavando sepultamentos ao longo de dias sob o sol escaldante dos trópicos, arqueólogos na Amazônia apostam agora uma corrida contra o tempo: a velocidade frenética de ocupação da região coloca pressão sobre o patrimônio arqueológico. A ocupação desenfreada da Amazônia pode destruir não só o seu futuro mas também o seu passado.
Vídeo: National Geographic 10 anos - Amazônia pré-Cabral
Conheça os bastidores da reportagem de capa da edição especial de 10 anos da revista National Geographic "Amazônia - Ano 1000", que fala sobre as sociedades indígenas amazônicas contemporâneas dos incas e dos maias.Infográfico - Amazônia ano 1000
O sítio arqueológico Laguinho foi habitado por pelo menos três sociedades distintas entre os anos 400 e 1300. As sociedades amazônicas não possuíam a instituição política do Estado, mas havia graus de chefia e organizações de poder diferentes dos atuais modelos ocidentais – eram em geral mais libertários e igualitários. Os povos viviam situações sociais antagônicas, com guerras entre grupos nômades e sedentários. link
A Amazônia antes dos europeus
No início da era cristã surgiram as evidências de crescimento populacional e de mudanças sociais profundas na bacia amazônica. Essas transformações culminaram, ao redor do ano 1000, em distintas sociedades (as atuais culturas arqueológicas apontadas nas manchas marrons no mapa). As mais populosas ficavam ao longo dos grandes rios.Amazônia - Ano 1000
Enquanto o Velho Mundo vivia nas trevas da Baixa Idade Média, civilizações experimentavam no Brasil um florescimento cultural. Contemporâneos dos incas e dos maias, eram autores de uma arte sofisticada. Só agora a arqueologia começa a decifrar quem foram esses antigos habitantes da terra brasilis.
Urna funerária da cultura Guarita (entre os séculos 9 e 16), civilização que viveu nas proximidades da atual cidade de Manaus; Museu Amazônico, Universidade Federal do Amazonas.
Foto de Maurício de Paiva
O desmatamento revela na Amazônia sítios como os geoglifos, estruturas geométricas perfeitas - este fica próximo a Rio Branco, no Acre. Ainda não se sabe a exata função dos geoglifos, mas eles provavelmente não eram locais de habitação. Os arqueólogos especulam que poderiam ser centros cerimoniais.
Os índios enawene-nawe, do Mato Grosso, têm parentesco com civilizações que se estabeleceram na região do rio Xingu ao redor do ano 1000. O fogo ajudou os antigos a domesticar a floresta, e sinais de carvão no solo são úteis para as pesquisas hoje. Foto: Rodrigo Baleia
Do alto do sítio arqueológico Laguinho avista-se a várzea do Solimões. A fauna aquática variada dos rios de águas brancas, como ele e o Madeira, atraíam os povos antigos. Além disso, nas cheias, as águas fertilizam o solo para a agricultura. Foto: Maurício de Paiva
Os arqueólogos Manuel Arroyo e Edimar Silva escavam o sítio Hatahara, nas margens do Solimões, onde um cemitério (link para a próxima foto) pode ocultar mais de 35 indivíduos. Como é típico dos sítios de terra preta, fragmentos cerâmicos misturam-se à matriz escura do solo. A composição química desses solos diminui a sua acidez, favorecendo a preservação de materiais orgânicos. Foto: Maurício de Paiva
Cemitério nas margens do rio Solimões, que pode ocultar mais de 35 indivíduos. Foto: Maurício de Paiva
Caboclos da Amazônia colhem a fruta do guaraná. O cacau, a mandioca, o cupuaçu, a pimenta e a castanha são outros exemplos de plantas economicamente importantes que foram domesticadas pelos antigos. Foto: Maurício de Paiva
Caboclos da Amazônia colhem a palha da piaçava. As matas eram manejadas pelo fogo - a floresta de hoje é produto dessa atividade exercida ao longo de milênios. Foto: Maurício de Paiva
Crianças brincam com fragmentos cerâmicos em Parintins, no Amazonas - muitas comunidades se dispuseram sobre sítios arqueológicos. Os estudos em curso na Amazônia podem mostrar um patrimônio extraordinário de povos que souberam ocupar a floresta por milênios de maneira sustentável. Foto: Maurício de Paiva
National Geographic Brasil
Edição - 122 - Maio de 2010
Artigo: Amazônia – Ano 1000
Por Eduardo Neves
Foto de Maurício de Paiva
Comentário:
OS POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS SÃO OS VERDADEIROS DONOS DAS RIQUEZAS NATURAIS DA AMAZÔNIA
Sou nascido em Santarém-PA e desde que me entendi percebi a existência de uma significativa população tipicamente indígena, sobretudo na áreas ribeirinhas do município. Ou seja, não tinha dúvida de que os "caboclos" dessas comunidades tradicionais se constituiam os autênticos herdeiros dos primeiros habitantes da região e como tal, os verdadeiros proprietários de todas suas riquezas naturaIs: TERRA, ÁGUA, ANIMAIS, VEGETAIS, AS RIQUEZAS MINERAIS DO SUBSOLO e todas as demais riquezas imaterias que nesta terra existe.
Para que nossa "civilização" se impusesse sobre as numerosas nações indígenas existentes na região os colonizadores utilizaram-se de diferentes recursos: a fé, a arma de fogo, a escravidão, as leis, os fortes, o controle dos portos, enfim, um conjunto de instrumentos aplicados de forma autoritária, violenta e covarde.
Gradativamente os colonizadores foram massacrando, submetendo e destruindo, de um a um, os povos mais antigos da Amazônia.
As tribos remasnescentes e as populações tradicionais da região só sobreviveraqm e preservaram sua linhagem indígena porque se retiraram do comércio com os poportugueses e se meteram pela terra a dentro procurando abrigarem-se o mais distante possível dos povoados ocupados pelos portugueses.
Hoje, os descendentes dos primeiros habitantes estão sendo forçados a deixarem suas terras a fim de dar lugar a implantação de grandes empreendimentos capitalistas destinados a explorar os recursos naturais da região.
Nós sempre vamos achar um motivo e encontrar um jeito de impor a Amazônia e seus povos o modelo de exploração colonial e predatória de suas riquezas.
É porque aqui está o berço da civilização da Amazônia (e do Brasil!) que devemos defender os interesses a apoiar as lutas das populações indígenas e tradicionais da região nos seus enfrentamentos contra madeireiros, grileiros, sojeiros, mineradoras, empresas do setor elétrico enfim.
Em primeiro lugar os herdeiros dos primeiros habitantes e todo o resto vem depois!
É por isso que apoiei os índios e comunidades tradicionais do rio Arapiuns quando queimaram as toras de madeira nas balsas. É por isso que apoio a luta dos moradores do PAE Juruti Velho pelo reconhecimento dos seus direitos perante a atuação da Alcoa na mina de Juruti Velho. É por isso que apoio a luta dos índios do rio Xingu contra Belo Monte.
OS POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS SÃO OS VERDADEIROS DONOS DAS RIQUEZAS NATURAIS DA AMAZÔNIA e todos esses grandes empreendimentos, além de desprespeitarem esse direito, causam insegurança no presente (imposição de uma nova cultura!), destroem o passado e comprometem o futuro.
Precisamos defender as nossas origens enquanto ainda é tempo! Defender os interesses das populações tradicionais da Amazônia é defender a preservação e permanência das riquezas naturais da região nas mãos de seus autênticos proprietários.
por Everaldo Portela

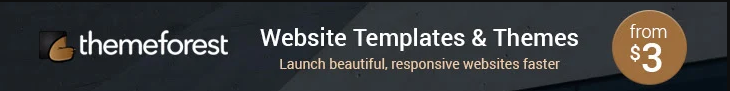
Sem comentários
Enviar um comentário