| No bico do corvo Só mais quatro pessoas podem entender essas duas. As akuntsu clicadas pelo fotógrafo Araquém Alcântara fazem parte do grupo de seis indivíduos que restaram de seu povo, todos na região de Corumbiara, sul de Rondônia. Todos os outros índios akuntsu morreram por doenças ou foram abatidos a tiros. “Os dois homens restantes têm marcas de bala no corpo”, diz o antropólogo Adelino Rocha, que já esteve quatro vezes na região. “Os akuntsu estão em uma situação delicadíssima, e sofrem risco real de desaparecer em pouco tempo”, alerta Aryon Rodrigues, professor da UnB que dedicou 60 dos seus 83 anos à pesquisa de línguas indígenas. E a etnia está longe de ser uma exceção nesse bico do corvo cultural. Na área em que vivem, próxima ao rio Omoré, estão também os dois últimos remanescentes do povo Kanoê, que também tem língua própria. O decano lingüista dá o tamanho da tragédia: “Quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia cerca de 1.200 línguas indígenas. Hoje não passam de 180, e esse número continua diminuindo. E não há como salvar o que já foi, não há registro algum da maioria das línguas já extintas, e de outras tantas resta apenas uma lista de palavras” |
A última badalada “É muito raro um relógio que não tenha conserto.” Pelo menos dos antigos. Quem garante é Paulo Bafá, que trabalha com carrilhões (de pedestal ou parede), relógios de mesa, de bolso e cucos há mais de 50 anos. Hoje, aos 62, o paranaense tem uma oficina em sua casa, em Carapicuíba (Grande São Paulo), e não viu o movimento cair nos últimos anos. “Sempre tem serviço. As pessoas herdam os relógios dos pais e avós e querem manter funcionando.” Paulo aprendeu o ofício sozinho, quando era funcionário de uma antiga relojoaria na Barão de Itapetininga, no centro paulistano, e, apesar da clientela fiel, o relojoeiro sabe que sua especialização é incomum. E não será pela sua família que irá perpetuar-se. “Minha mulher ajuda com os clientes, mas não faz consertos. Até tentei ensinar meu filho, mas ele não quis. Hoje é formado em engenharia da computação, e minha filha, em administração de empresas.” |
| TRIP + |
Sem palavras Esse é Julaparé, índio Umutina. Por 20 anos, foi o único falante de sua língua-mãe, o Umutina. Para o drama ficar mais claro: é como se, por duas décadas, você fosse a única pessoa no mundo que falasse português. Julaparé passou a vida entre os rios Paraguai e Bugres, na região do município de Barra dos Bugres, 200 quilômetros acima de Cuiabá, capital do Mato Grosso, estado que há anos lidera o ranking de desmatamento da Amazônia. Julaparé morreu em 2005, possivelmente de ataque cardíaco, com idade aproximada de 80 anos. Com ele, morreu a língua Umutina --ainda há índios da etnia na região, mas que não aprenderam o idioma original. Era o último falante. E seu caso, infelizmente, não é único. Há centenas de línguas indígenas brasileiras mortas, e outras estão pela bola sete. É o caso dos Barés, com apenas dois falantes na fronteira do Brasil com a Venezuela; dos Kanoês, também com dois falantes em Rondônia, e dos Akuntsu, também em Rondônia, cuja história e foto você vê na edição de agosto da revista Trip. “Julaparé ajudou muito no meu trabalho de registro da língua. Mas ele não gostava muito de conversar com a outra falante Umutina, ficava triste, lembrava do passado de seu povo”, conta a profa. Stella Telles, da UFPE, que estudou a fundo o caso de Julaparé. Nesse vídeo você pode ver Julaparé falando por alguns segundos. Ele responde, em português monossilábico e muito sem jeito, o que lembra de Marechal Rondon, militar e sertanista brasileiro, que passou pela sua tribo na década de 50. Infelizmente, não fala nenhuma palavra em Umutina (mas nós te ensinamos uma: Barukolô, que significa “estrela”). A pronúncia exata, contudo, nunca mais. |
| |
| |
|
via revista Trip - edição 169
fotos: Araquém Alcântara

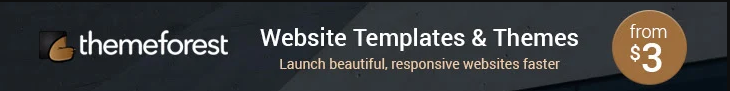
Sem comentários
Enviar um comentário